Por Jusciele Oliveira e Maíra Zenun*
Foi em janeiro de 2015 que nos conhecemos. Duas doutorandas, estudando a produção de cinema em África, que nunca se cruzaram no Brasil, mas que se viam reunidas com mais um grupo de 30 pessoas, entre docentes e discentes, durante a Escola Doutoral Fábrica de Ideias, que aconteceu em Lisboa, Portugal. Tratava-se de um curso avançado em estudos étnico-raciais, criado em 2008, pelo Programa de Pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos (Posafro), da Universidade Federal da Bahia (UFBA, Salvador, Bahia, Brasil), com o objetivo de fomentar o intercâmbio de ideias e dados a respeito de diferentes temas relacionados aos estudos africanos. Realizado em parceria com o Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), o Fábrica de Ideias 2015 reuniu sul-americanos, europeus e africanos. E nós duas. Jusciele Oliveira, aluna do doutorado pleno em Portugal pela Universidade do Algarve, com uma pesquisa sobre a obra de Flora Gomes, discutindo suas marcas autorais nos cinemas africanos. E Maíra Zenun, na altura, dando início ao estágio de um ano de doutorado sanduíche em Portugal, para investigar de que maneira os filmes premiados no Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou (FESPACO) – que acontece em Burkina Faso e há 40 anos exibe filmes de toda a África e seus territórios diaspóricos –, abordam questões relacionadas às identidades raciais. Éramos ambas pesquisadoras interessadas em melhor perceber alguns dos processos que ocorrem em África, e que afetam diretamente o cinema que se realiza no continente. E foi durante a experiência desta formação, que tivemos a chance de conhecer a pesquisa acadêmica uma da outra. E, o mais importante, a oportunidade de fortalecer entre nós uma rede de conhecimento da qual já fazíamos parte desde o Brasil, embora até aquele momento não tivéssemos tido a oportunidade de dialogar e de nos conhecer pessoalmente. Rede esta que agrega um conjunto cada vez mais crescente de pessoas que estudam a produção de um cinema realizado por africanos e afro-brasileiros, e a repercussão disso no que tange às representações sociais. Com o fim do curso, e descobertas as afinidades de pesquisa, passamos a compartilhar nossa trajetória de trabalho, trocando experiências, bibliografias, filmografias e, sempre que possível, temos nos encontrado para situações de aprendizado.
Diante desta recém parceria, apresentamos neste texto, o resultado de um trabalho realizado por nós, no fim do primeiro semestre de 2015, durante o Colóquio Escritas e Cinema nos Países de Língua Portuguesa, que aconteceu no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG/Lisboa). Nesta ocasião, tivemos a oportunidade de nos reunir novamente, no intuito de aproximação e apropriação de outras discussões relacionadas a África. Desta vez, o encontro tratava sobre as representações de “nação” na produção escrita e visual de cinco países: Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Organizado pelo Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina (CEsA-ISEG/Universidade de Lisboa), em parceria com o projeto Narrativas Escritas e Visuais da Nação Pós-colonial (NEVIS), o colóquio tinha em conta o fato de que 2015 marcava a data de quarenta anos das independências dos países africanos colonizados por Portugal. Nesta ocasião, pudemos ouvir e dialogar com importantes cineastas africanos, que participavam do evento. Entre eles, Zezé Gamboa, Leão Lopes, Ângelo Torres, Isabel de Noronha, Pola Ribeiro e Flora Gomes. Este último, gentilmente nos concedeu, no dia 30 de maio, algumas horas do seu sábado, e conversou conosco sobre sua carreira, o continente negro, política e, especialmente, sobre cinema.

O cineasta Flora Gomes.
Fonte: http://www.guinendadi.it
A conversa, registrada aqui em formato de entrevista, foi realizada no café-hall do Hotel Amazônia, localizado na freguesia do Rato, Lisboa, em uma agradável manhã de primavera. Um bate-papo descontraído, com muito riso e espontaneidade, sobre os planos futuros, o presente e o passado tanto do cineasta quanto da Guiné Bissau e África. Neste encontro, Flora nos contou sobre a sua infância, seus estudos iniciais e a importante convivência que teve com Amílcar Cabral, um dos lideres das lutas africanas de libertação, durante os anos 1960/1970. Desta forma, apresentamos aqui, aquilo que foi para nós uma importante oportunidade para conhecer o realizador, e perceber de que forma suas ideias e ideais são trabalhados por ele em seus filmes. Por fim, Flora nos brindou com a excelente notícia de que em breve pretende ir ao Brasil, para estreitar laços e alargar caminhos. Tratou-se, portanto, de um encontro significativo, que nos proporcionou novas reflexões a cerca das relações entre obra, autor e contexto para pensarmos cinema e representação. E também de que maneira a produção de cinema em África nos fornece outras novas representações que em nada tem a ver com imagens encarnadas no estereótipo e na subjulgação, tão comuns entre o repertório de histórias contadas sobre a África, por olhares de fora da África. Boa leitura.
Quem é Florentino Gomes?
Quem sou? Eu sou um africano, que, na verdade, estou tentando deixar algumas marcas por onde passei com minhas obras. Eu vim de uma família muito pobre, parte da minha família é muito pobre, mas também tem uma outra parte. A mulher que me educou. A irmã mais velha de minha mãe. É uma senhora muito rica. Foi ela quem realmente me ajudou, pois os meus pais não tinham condições. E como se isto não bastasse tive a sorte de ser abraçado por este evento, movimento, liderado por Amílcar Cabral, que mudou praticamente o meu percurso. Eu costumo de dizer, se calhar, as pessoas, que como um homem muito forte poderia ser um grande guarda, guarda de um armazém. Se calhar, numa escola, num hospital, tudo. Isto poderia até acontecer, mas este encontro com este Senhor, traçou-me, eu comecei a ver, na medida do possível, a luz que me ilumina, que iluminou o meu destino, que continua a me iluminar, que mudou praticamente o meu percurso. E dizer que o Flora não é nada mais do que um jovem da minha geração, que tiveram esta sorte de ter um busto, um gigante como Amílcar Cabral, com quem eu vivi um bom momento, praticamente, como meu pai e que mudou meu destino, repito, para o mundo do cinema, que no início não era a minha vocação e acabei por ficar por tantos aplausos, só que esqueci que com os aplausos não se abre a conta em nenhum banco do mundo.
O Senhor assina o seu argumento em coautoria, por que?
Eu gosto de trabalhar, eu escrevo antes, a ideia geral do filme, e depois trabalho com argumentista, não sou dramaturgo. Uma cena [Olhos azuis de Yonta] que eu escrevi e depois tirei e meu argumentista me disse: Flora isso é ótimo não podes tirar! e ficou. Eu não sou um homem de muita escrita. Eu projeto a imagem. Eu vejo a imagem e filmo. Eu penso que ainda tenho que trabalhar mais. O cinema é caro e nós temos essa desgraça de pertencer a um país que aparentemente é um país, que dizem que é um país pobre, como eles conseguem saber se é pobre ou rico? O fato de ter conseguido bater na porta no Brasil, essa visibilidade, essa janela no Brasil pode permitir conseguir os meios. A minha intenção de ir ao Brasil, interessa-me conseguir uma bolsa no Brasil e conseguir um argumentista brasileiro com que pudesse dialogar, pois os brasileiros têm uma escrita de precisão. Bons. O argumento é muito importante para conseguir financiamento, para vender a minha ideia, pois quando começa um filme eu deixo um pouco o roteiro. Eu quero escrever uma coisa para vender e tenho a dificuldade de vender.
Nestes últimos dois dias, durante o Colóquio, você falou das suas leituras, o que lê o Flora Gomes?
Eu leio um pouco. Gosto de ler contos, gosto de ler poesia, gosto de ler filosofia, gosto de ler histórias. Gosto também de ficções.
Lê histórias para escrever histórias?
As histórias não começam da mesma maneira, por isto que as histórias são interessantes de ler e de ouvir, não só ler. Não se esqueçam que eu vim de um povo, que a tradição oral é muito forte. Quando eu era miúdo, o que mais gostava, era que a partir de 7 ou 8 horas da noite, não tinha luz elétrica na zona em que eu nasci, então, a partir das 6, 7 horas, tínhamos que está em volta de uma fogueira para ouvir estas histórias, embora ainda não tenha começado a contar estas histórias, mas levo comigo sempre algumas passagens, daquelas histórias que ouvi quando era muito novo. Mas, eu gosto muito também de ler, sobretudo ensaios e as reflexões sobre política.
Está se tornando um político?
Não. Sabes que no cinema tudo é político. Acho que não há nenhuma imagem inocente.

Cena do filme Os Olhos Azuis de Yonta (1992).
Fonte: http://www.cinept.ubi.pt
O senhor estudou cinema em Cuba. Seus filmes trazem marcas da história da Guiné-Bissau, da história da África. São narrativas atribuídas ao período que trabalhaste como jornalista. Dentro da questão de formação, que se deu em Cuba e no Senegal, acrescido de suas muitas viagens e múltiplas andanças, como definir qual o seu estilo? Que marca você representa no cinema?
Sobre o estilo, é uma pergunta que já me fizeram em todos os festivais em que meu filme é apresentado. Mas eu acho que ainda é muito cedo, embora já não tenho idade para estar a pensar que eu possa ainda estar a fazer outras coisas, fazer um filme que me defina como um determinado estilo, porque o problema é que eu só fiz cinco longas-metragens com alguns curtas-metragens, mas eu ainda não gostaria e nem tenho pretensões de achar que eu tenho já um estilo, pois o que eu podia definir como um estilo seria que eu sou uma pessoa muito agressiva com a câmera, com os movimentos das câmeras, os travellings, mas sou uma pessoa que eu gosto é do mundo a volta de mim, com as minhas figurações. Isto tudo mostra que, se calhar, é um medo de estar só, foi por isso que eu estou sempre banhado por todo esse mundo das figurações nos meus filmes. Não há nenhum dos meus filmes em que tu não sentes, alguns menos, mas é só falando com os produtores que vocês podem imaginar as dificuldades que eu meto os produtores. Cada vez eu digo, “quero vinte figurantes, trinta, quinhentos, mil, dois mil…”. E eles entram em pânico, porque eu sinto a necessidade de ver no mosaico dos meus filmes, ver essa composição étnica, os rostos de todas as pessoas com quem partilhamos o mesmo espaço. Eles estão a frente, eu estou atrás, eu encontro com as pessoas que vem e que nem sei quem são, nem sei o que eles pensam. É isso que os meus filmes que provavelmente faço passar.
Sobre Amílcar Cabral, presente em todos os seus filmes, como você já assumiu, isso quer dizer que, uma vez soldado, sempre soldado?
É muito mais do que isso. Eu ouvi outro dia as pessoas a falarem do papel da mulher e eu disse, quem lê Cabral, não precisa de nada, e tem tudo na mão. Nos anos 1960, Cabral já falava de gênero. Ele dizia que, nos comitês do partido, que era o Partido Africano parar a Independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, partido que ele fundou, ele dizia que se o comitê, que é a base das estruturas do partido, era composto por cinco pessoas, no mínimo duas deviam ser mulher. Nos anos 1960! Um homem que viveu para além do seu tempo. Aliás, é por isso que o mataram. Porque ele incomoda. É uma visão. Não estou a exagerar, mas a África vai passar muito tempo para encontrar uma figura como Amílcar Cabral. Então, foi um homem que disse que nós temos que deixar de ter medo. E quando ele diz que o homem tem que deixar de ter medo, ele está a se referir ao homem que não tem nenhuma formação. O medo vem como um aspecto de ignorância. Tu não sabes porque vem o relâmpago, pensas que é porque deus é que zangou com alguma coisa parecida. O rio que corre, como ele mesmo dizia, rápido, tu pensas que é porque há um fenômeno invisível e todas essas coisas que ele dizia, eu encontro isso não só no meu país como em muitos países africanos. O medo de andar rápido, o medo do homem que tem arma, o medo do homem fardado. Eu fui educado nesta base, e é por isso que o obstáculo para mim é uma coisa normal. E eu vou perfurando, mesmo a parede, para chegar, para conseguir falar ou dizer alguma coisa. Então, são coisas que eu acho que Cabral me marcou de tal maneira. E como eu tive a sorte de o conhecer. Porque no meu caso, como os que o conheceram de outra maneira, é que eu, todos os dias de manhã, ele vinha lá na escola onde eu estudava. Na escola chamada piloto. O homem tinha um modelo de educação que ele queria, aquilo tem a ver com a própria forma como o vosso mestre Paulo Freire, que eu conheço e que esteve na Guiné. Aliás, foi ele que me inspirou, foi com as palavras dele que, não sei se chegares a ver Morto Nega, aquela palavra luta foi dele. Quer dizer, são coisas que eu comecei, porque luta, cada qual dizer o que significa essa palavra, foi com um homem de dimensão como o Paulo Freire, que esteve na Guiné, e ficou apaixonado por aquele país. Ele (PF) escreveu um livro. Naquela altura, e quem vê hoje a Guiné, embora tenha hoje muito mais razão de estar otimista, como tem sido em todos os meus filmes, e porque não dizer que para mim Cabral é muito mais que um pai, é muito mais do que um líder. Cabral não é um deus, infelizmente, ou também eu nunca vivi com um deus. Mas, é um homem que tem as suas fraquezas, que tem os seus defeitos, e há quem diga que ele não devia fazer a guerra. Mas não me explicaram como que ele devia libertar o país com um sistema colonial retrogrado como o que havia aqui neste país (Portugal). Mas, isso são coisas que eu um dia vou responder nos filmes. Mas, para dizer isso outra vez sobre Cabral, a Guiné não o desmembrou, Cabral é muito grande. Nós não temos problemas étnicos.
À mim, quando me perguntam a respeito étnico, pra mim não é uma pergunta porque eu assumo a minha identidade como africano, e sou guineense porque eu conquistei aquilo com sacrifício, e muita gente, muitos jovens que podiam ter estado hoje como médicos, como pilotos, advogados, sociólogos ou professores, que aceitaram morrer para que a Guiné Bissau seja o que é hoje. E muitos, depois disso, estavam dispostos a também morrer noutros países para que o homem seja cada vez mais livre. E foi isso que nos ensinou. Cabral não gostaria que o pintassem como deus. É por isso que a Guiné levou muito tempo para termos estatua de Cabral. E quando puseram o busto do Cabral, eu achei que tinha que ridicularizar isso e foi fazendo Nha fala para tentar mostrar que aquilo não era nada. Cabral para mim é muito mais… não tenho palavras para descrever a grandeza e a simplicidade daquele homem. Sabes, a Guiné Bissau tinha 99,9%, quando iniciou a guerra, de analfabetos. A primeira escola quem inaugurou foi Cabral. O primeiro liceu na Guiné foi inaugurado em 1959. E ele, com a sua fineza e tudo, Cabral nunca inclinou perante qualquer que seja a dificuldade. Até no momento da sua morte, quando o iam matar, queriam era amarrar. E sabe o que ele disse, “não, não é preciso”. Naquele momento ele disse, “à mim ninguém me amarra, não podem me amarrar porque eu estou a lutar por isso, para que o homem da Guiné, o homem africano seja cada vez mais livre. Mesmo que me o tivessem que matar.” Foi assim que dispararam contra ele. Foi assim que a arma cantou mais alto. E eles dizem que não era para deixar Cabral falar na hora da sua morte, porque tinham medo da fala de Cabral. Tinham medo de Cabral. Cabral era um fenômeno. É o único caso na Guiné que ninguém toca. Tu podes estar em um café e dizer, “Cabral era …”, e ao perguntar, “Mas, o que que disseste sobre Cabral?”, respondem, “Não, não, estou a dizer que ele é o melhor de nós todos.” É um homem que mudou completamente o meu percurso. Eu digo sempre, mudou o percurso dos rios daquele país, caso contrário, o país estaria como estava naquela época. Mas, Cabral é o homem da água.
Ainda sobre Cabral, não queriam ouvi-lo por que a fala dele era uma coisa que impactava, perigosa, que muda?
Não queriam ouvir, porque era a maior arma que Cabral tinha.
Qual é a sua fala pelo cinema? A sua arma está direcionada para alguma coisa? O seu cinema fala sobre o quê?
O meu cinema é tentar desmistificar essa sociedade, que pintaram com uma cor que não é a cor. Diz-se que com tudo que vem da África, tem que ter cuidado, deve ter um vírus, para tomar cuidado, porque é feio. Nós temos muito, o que temos ninguém tem. Não é por, como dizem os franceses, não é por azar que o negro, sozinho na rua, é capaz de começar a dançar. As pessoas pensam que aquilo é porque é doido, mas não. É de tanta energia e ele quer desprender e mostrar que, com tudo que aconteceu, ele continua a andar com a cabeça erguida. Isso é muito importante, o que eu digo, eu não quero ter um mundo de uma cor só. Eu gosto muito do arco-íris, a diversidade das cores. Eu acho que é isso que faz o mundo cada vez mais bonito. Então, nos filmes que eu faço, eu tenho um objetivo a atingir: encontrar um espaço, sem querer matar o outro que lá está, mas, como é que eu posso caber naquele espaço que está aí, vazio, que está, possivelmente até com intenções e que está reservado para o outro, a pessoa mais parecida com ele. Este espaço que eu quero ocupar. Este é o meu objetivo. Aliás, eu tenho um poema que acabei por pôr na boca do menino Férum, na República dos meninos, “Esta luz negra que me ilumina”.
Então, o seu cinema é colorido? Ou negro? O cinema negro não fala só do negro?
Não está falando só do negro, mas leva uma carga do sofrimento de que foi o nosso continente.
O senhor é um realizador negro. Isso implica em alguma coisa nos seus filmes?
Nem sei. Eu nunca olhei para a cor que eu tenho, mas eu acho que como disse, se ser negro é compreendido como o homem natural, livre, eu assumo isso. Eu sou um homem negro, livre, porque quero voar muito alto, em um espaço livre. E quero iluminar o meu espaço para fazer o filme com a luz negra, que um dia vai me contar a história, que eu não consegui terminar, ainda.
Mudando de assunto, uma mulher bissau-guineense vai à guerra. Outra jovem bonita trabalha na cidade. Uma torna-se cantora de sucesso, famosa, em Paris. Outra é médica. Seus filmes contam histórias de mulheres. Por que?
As mulheres têm um percurso na nossa vida. Eu, cada vez que lembro das dificuldades da minha mãe… é uma forma também de render homenagem a minha mãe. Mas também, é uma forma de homenagear a minha companheira, a minha mulher, que, mesmo estando distante de mim, eu sinto a sua presença da maneira como ela me tem estado a apoiar e acho que é a melhor maneira de render-lhe homenagem é falar dela assim, de iluminar o nome dela.
O que entender quando em Nha fala, sob a voz de Vita, ouvimos: “Agradeço à Deus, por não ser preta nem africana.”
Não, porque é só na comedia que tu podes fazer isso. É uma provocação, porque ser negra ela é. O que nós esperávamos tudo, é que ela diz “Epa, eu vou tentar, ou pôr o produto que foi inventado hoje já no mundo, para embranquecer”. Já viste isso? Isto é mesmo em Bissau, mesmo aqui. Pessoas que punham esse produto, aliás, para tornar-se mais claro. E ela tão preta, com uma pele linda, diz “agradeço à Deus por não ser preta nem africana.”.
As crianças e os jovens são personagens e temáticas constantes na sua obra. O que eles representam nos seus filmes?
Porque eu sou um homem que pensa muito no amanhã e amanhã começa com eles. Por isso nós crescemos. Quando tu tens umas gargalhadas de manhã das crianças na sua casa, na sua aldeia, no seu apartamento. É de uma luminosidade impressionante, por isso que quem anuncia a tristeza numa aldeia são as crianças. Quando eles andam com a cabeça baixa… E eu acho que durante muitos anos nossas crianças viveram momentos muito tristes. É bom dar-lhes, propor-lhes essa forma de ver as coisas diferentes. Esses sorrisos. Por que Amílcar fez uma guerra, para que nos tornássemos nós mesmos. Sermos nós a pensar. Nós a andarmos com os nossos pés. “Pensar com as nossas cabeças e andar com os nossos pés”. Quer dizer que cada vez que uma criança sai pela manhã. Sabe que tomou o seu pequeno-almoço e seu copinho de leite na mão. Sua mochila nas costas e vai para a escola, que sabe que não é visto como quem vem com umas tranças, aquele que sabe que não deu para fazer as tranças, vê o outro com o chocolate. É isso que quero passar nos meus filmes. Às vezes, nem chegam bem, por que como levo muitos anos para fazer um filme, cheguei à conclusão que quero meter tudo de uma vez no filme, mas eu acho que esse sorriso das crianças, dessa força dos jovens, que perceberam que só lutando é que se pode ganhar e que não se pode passar o tempo a dormir em casa, e pensando que vai encontrar tudo a cair como umas mangas podres nas ruas, isso não há mais.
Nesse sentido, entra a educação, que também é uma temática constate na sua obra.
Sim, é um tema presente. Por exemplo, quando tu pegas na floresta, no filme Mortu Nega, a repetirem em voz alta, isso é um grito, dentro das matas, que Nós não somos homens violentos. Estamos a fazer a guerra porque queremos ter acesso aquilo que nos é vedado, que é a escola e a saúde.
Flora já ganhou muitos prêmios e distinções em sua carreira. Entretanto, os seus filmes não são exibidos ou assistidos nas salas comerciais do Brasil ou Portugal. A que você atribui este distanciamento entre Festivais e mercados cinematográficos?
Acho que quando surgiu o cinema, que devo agradecer a todas as instituições, começando pelo meu país, que muitos já não estão mais em vida; até a França, a Suécia, Portugal, todos os países, que apoiaram a produção dos meus filmes. Esse cinema chamado cinema africano surgiu de uma maneira sem grandes estruturas e fomos apadrinhados pelos países ocidentais. Os vendedores que tinham canais se apropriaram do nosso trabalho e fizeram nos conhecer, mas temos alguns problemas em termos de distribuição dos filmes… Com o surgimento da nova tecnologia o cinema deveria realmente está exposto nos DVDs, que não é o caso, que são filmes que, muitas vezes, fizeram, mas não querem comercializar, porque mesmo com boas críticas, não querem acompanhar, porque o problema de muita gente é ter o retorno, o dinheiro deles. A produção é uma produção realmente no termo da palavra, muitas das vezes são curiosos, alguns que podem conhecer cinema até mais do que eu, mas depois não querem vender. Temos aqui (Portugal) o vendedor do Mortu nega e do Nha fala, criam um sistema para festival. Mas, na verdade, o importante para mim na minha carreira, é continuar a fazer filmes, mas é bom dizer aqui também, que é bom que o filme seja visto, mesmo que seja gratuito. Acho que o filme é para ser visto, não é para se guardar. Eu fico triste quando as pessoas dizem que estão a procura do filme. Como ontem no evento, todas as pessoas perguntavam como é que se pode ver os seus filmes. E o Po di sangui muito mais, porque o dono/produtor não quer comercializar em DVD. As únicas pessoas que fizeram a produção do filme em DVD e que comercializam foi a francófona, porque eles fizeram uma dublagem em francês, mas o filme perde, para justificar os papeis das línguas. Eu não gosto muito de dublagem. Há um trabalho de dublagem que deve ser feito, mas deve ser seguido com muita atenção pelo diretor. O ideal seria a legenda.
Você disse: “Produzir filmes no continente africano é impossível e não existe mercado nem distribuição”. Neste sentido, a co-produção ou produção estrangeira, especialmente francesa, não seria uma tendência ao controle estético e temático? Ou mesmo limitação?
Pessoas com quem eu já trabalhei sabem que não brinco com isso. Interferir na minha fala, não permito. O problema é que tu tens que está muito bem esclarecido e saber o que tu queres dizer no filme. Às vezes, não queres que falemos no passado do Negro, da nossa relação com o Ocidente. Eles vão dizer que se tu não estivesses posto tal texto com tal sequência, com tal coisa e se calhar… não podias, não são todos, verdade seja dita, mas daí é uma guerra de espaço, porque eles também têm uma responsabilidade com os donos dos fundos. Verdade seja dita, os donos dos fundos, na maior parte, são funcionários das instituições do Estado, que não querem ser mal vistos, pela instituição, porque deram apoio ao filme, que falou mal deles. Isto são coisas que não tem necessariamente a ver com as instituições governamentais, mas com pessoas que trabalham contigo em termos do produto. É verdade que estas coisas têm uma limitação enorme. É uma guerra. Sabes que quando fiz o Nha fala o que mais me revoltou foi quando fui filmar em Paris. Eles acharam que não precisava, que poderia fazer o que chamam de elipse, mostrava só uma foto de Paris ou da Tour Eiffel. Não precisava lá ir, porque é muito complicado filmar em Paris. Bem, eu disse que Paris não é menos complicado, já que há prédios que não movem, diferente das matas da Guiné-Bissau. Eu já fui muitas vezes à Paris e vou lá filmar. Uma coisa eu sei que vou filmar. O questionamento era porque a gravação também aconteceu no período que aconteceu os atentados nos Estados Unidos. Não podíamos estar em grupo. Eu queria fazer o espetáculo ao ar livre. Só que a tensão era enorme. Naquela altura não podíamos ter mais de cinco pessoas juntas. Erámos vigiados.
Flora Gomes que trabalha com personagens que andam não poderia filmar em estúdio…
O problema é que eu não gosto muito de estúdios, mas também naquele momento eu não poderia desencadear uma guerra, se calhar se eu tivesse refletido melhor… O problema dos produtores era enorme. Na verdade, o problema era que o filme ficasse bloqueado, mas conseguimos realmente ter um resultado que a priori fez com que o filme tivesse resultado.
Há estudos nos EUA que dizem que o Flora Gomes tem uma luz especial para filmar os corpos negros. Seria um método?
O problema é que eu cheguei a dizer uma vez que há discriminação e racismo até nos aparelhos… Isso foi um choque, por conta dos homens que fabricam películas, eu disse mesmo. Só quando o Sidney Poitier ganhou o Oscar que eles começaram a pensar que o negro perante a luz e a película tinha um comportamento diferente. O que acontece? Agora com as máquinas e telefones, fotografar está mais democrático e menos racista. Quando eu faço fotografia com as máquinas, entre uma pessoa branca e uma preta, a câmara é convidada a buscar quem tem menos luz, o branco, a outra aparece como um carvão. Nesse trabalho do corpo, isso tem a ver com minha fantasia do homem da mulher. Nessa cena, eu podia ter ido mais longe, mas acabei porque não quis como estava previsto. Porque eu trabalho…. Nessa cena o que mais me marcou quando os dois personagens, corpos se contrapõe e se acariciam. Isso mostra que não há nenhum corpo no mundo, tanto da mulher branca ou do homem branco que é tão iluminado como a pele negra. Quando o contraste da pele negra e pele branca, com sua pele natural, o Edgar Moura (brasileiro) soube dar um equilíbrio das luzes para manter cada qual sem forjar a luz do outro. O diretor de fotografia é aquele que pinta o quadro, criando uma igualdade entre os dois corpos. Isso só um homem com a dimensão do Edgar poderia o fazer. Ele é muito bom. Eu quero voltar a trabalhar com ele.
Há alguma cena especial para você?
Eu sou uma pessoa insegura, eu nunca estou satisfeito com nada do que faço. O último plano do Nha fala. Voltando para minha loucura… Eu não encontro palavras para descrever as belezas do mundo. Aquela cena do leite, da cabaça de leite, do filme Po di sangui, do leite derramando na terra, como se fosse a metáfora da amamentação da terra. É um contraste entre a terra e o leite. Também gosta da cena das mulheres que parecem árvore, com a terra no corpo [Po di sangui]. Eu lembro da exibição desse filme em Cannes. A plateia em silêncio e depois emocionada. A Bia Gomes, protagonista do filme, também chorou na exibição. Quando estou no momento de criatividade é quando estou apaixonado por qualquer coisa. Eu tenho que estar viajando ou pensando alguma coisa que não sei o que, ou quando estou no meu carro a conduzir, tenho muitas ideias. Eu, às vezes, tomo nota, mas já me aconselharam a gravar as ideias.
No filme Olhos azuis de Yonta, os africanos são varredores, dez anos depois, no filme Nha fala, os portugueses são varredores. O que mudou?
Em Nha Fala, estamos perante fatos, estávamos no século XXI as coisas mudaram…. A As coisas no Sul mudaram… Eu tive um problema com os negros nos EUA, por conta do senhor francês que fala: “Eu não gosto de negros, mas amo a música”. Como se utiliza essa frase. Os estadunidenses querem se apropriar do que é luminoso. Que não podes pensar em evitar as relações entre os negros e brancos. O problema é o posicionamento e o caráter de cada um. A mistura deixa o povo mais bonito. Cabral disse que tudo que se mistura dá um gosto bom! Acho muito interessante… na verdade, o problema é não aceitar renunciar o que é seu. A convivência deve ser 50 por 50, sem hierarquias!

Mortu Nega (1988), primeiro longa do realizador.
Fonte: http://www.rtp.pt
Ao apresentar alguns dos seus filmes em congressos, seminários e disciplinas, percebe-se, que sua obra é ou amada ou rejeitada. Conte-nos a experiência da exibição do filme Mortu nega na tv em Bissau. Como você vê a recepção dos seus filmes?
Foi a primeira vez que os guineenses estiveram frente-a-frente com seu passado, era como se estivessem em frente um espelho, nessa altura a TV começou a funcionar, as pessoas tiravam a TV para a rua e os vizinhos vinham com suas cadeiras para assistir na rua. É um filme de grande dimensão na Guiné-Bissau. O filme tem um discurso mais direito, contaminador, o discurso quando diz perante o passado e espirito dos mortos, o futuro requer, e sobretudo quando os que não tem nada a ver com a cerimônia chegam com as máscaras, representando aqueles que se infiltraram no PAIGC e deram cabo do partido. Que já há vinte anos que eu já vinha falando disso e ninguém tinha se apercebido disso. Alguns acham que o Os olhos azuis de Yonta é mais profundo que Morte Nega, porque o conflito de geração nos Olhos azuis de Yonta, ao querer ser um empresário de um homem que veio da luta com o sentimento de querer recrutar com os jovens da rua, quem quer ganhar dinheiro não funciona assim, e a paixão que tinha da miúda, mas tinha esse aspecto moral de ser filha de um colega de armas. Eu acho que o interessante é que as pessoas rejeitam, muitas das vezes, as coisas que sentem quando estão incluídas naquela lista na chamada de atenção, rejeitam porque não compreenderam também ou não decifram, ou porque não era o estilo do filme que queria compreender ou porque o erro também pode ser do Flora. E as reações devem ser diferentes. Isto é arte.
Você relaciona a boa recepção do filme Mortu nega por a língua falada ser o crioulo guineense?
Sim, acho que tem a ver essencialmente com isso, mas acho que a história estava presente, há muitas cicatrizes não fechadas. No Mortu Nega, na Guiné, quando uma mulher da luz e a criança morre na primeira, na segunda, na terceira ou quarta, quando uma criança sobrevive é dado o nome de Mortu Nega, que a morte o recusou… Eu utilizei no título, os que deviam morrer durante a luta não morreram, não valem nada os que sobreviveram que nem a morte os quer, os recusou.
Para finalizar, há possibilidade de você se expressar de outras formas artística, como a literatura, no futuro? Como é o Flora Gomes nas redes Sociais?
Não sei, eu tenho tanto para fazer, mas vou tentar começar a escrever. O meu problema é encontrar… Meu filho diz que preciso saber o que os outros pensam de mim. Vou tentar escrever outras coisas. Agora estou focado na história da batalha sobre o corpo da mulher. Estou à procura de um roteirista. Porque o filme vai dar muito o que falar, já que falará de poder.
*Socióloga, pesquisadora, educadora, videografista e fotógrafa. Concluiu, em 2007, o Mestrado em Sociologia da Cultura, pela Universidade de Brasília (UnB), onde tratou sobre o processo de industrialização do cinema brasileiro e apresentou a dissertação “Os intelectuais na terra de Vera Cruz: cultura, identidade e modernidade.” Atualmente, é aluna do curso de Doutorado em Sociologia da Cultura, pela Universidade Federal de Goiás (UFG), com o projeto “Imagens e Autorrepresentação: uma estética negra no cinema africano.”. Há mais de quatro anos, participa, como pesquisadora convidada, do TRANSE/UnB – Núcleo Transdisciplinar de Estudos sobre a Performance –, orientado pelo Prof. Dr. João Gabriel Teixeira. Também mantém um blog de imagens – http://www.floresdemaiomairazenun.com.br –, onde expõe pesquisa sobre a questão da autorrepresentação das culturas negras contemporâneas (Centro-Oeste brasileiro), além de um estudo sobre formas de se realizar etnografias urbanas através do audiovisual. Quanto a experiência profissional, atua há mais de sete anos como professora de Sociologia, para o Ensino Médio, e Antropologia e Sociologia para o Ensino Superior. Possui publicações e participação em eventos na área de Ciências Sociais/Humanas e Artes Visuais, onde já apresentou trabalhos com ênfase nas linguagens da Sociologia da Cultura e da Imagem, Fotografia, Cinema, Vídeo-performance e Educação. Por fim, atua com os seguintes temas acadêmicos: audiovisual, cinema, educação, fotografia contemporânea, literatura, recepção, representação e autorrepresentação social, performance, sociologia do conhecimento visual e sociologia da cultura.
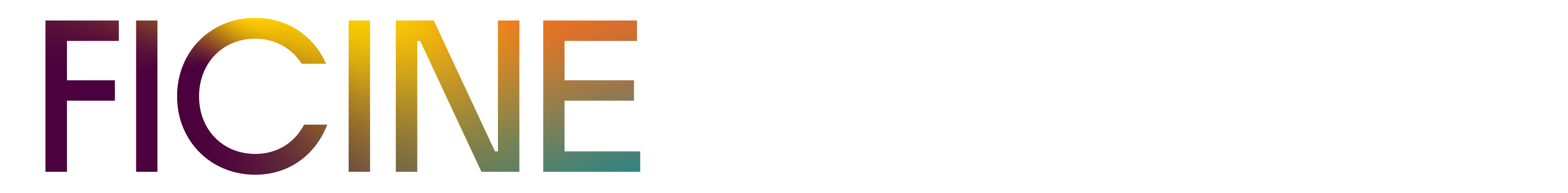
Eu gosto muito de lembrar a minha infância e este filme é uma lembrança inédito, flora faça-o de novo se faz favor…..
CurtirCurtir
Gosto muito desses filmes porque fez me recordar a minha infância….
CurtirCurtir