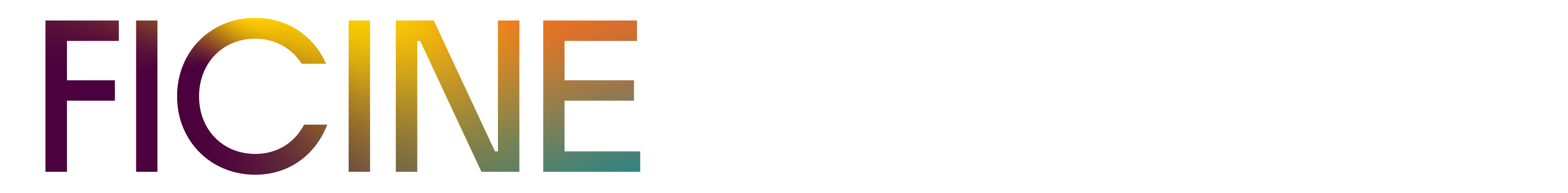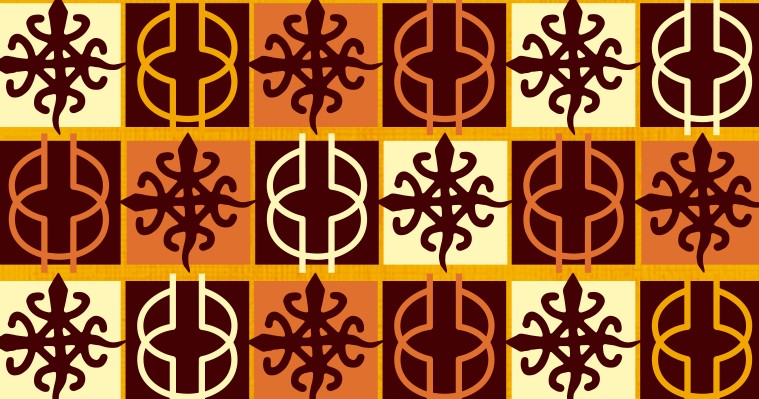Vinícius Dórea
Começamos aqui uma série de entrevistas com as integrantes do Ficine, numa iniciativa que pretende, a partir do trabalho de todas elas, entender as frentes de pesquisa e práticas em suas carreiras, bem como as perspectivas éticas e estéticas implicadas nessas atividades. A primeira de nossas entrevistas é com a pesquisadora, professora e curadora Kênia Freitas. Nela, Kênia fala sobre sua formação, seu trabalho como curadora e crítica, cinema negro, afrofuturismo e indica uma série de festivais pra gente acompanhar.
FICINE – Pra começar eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua formação, no sentido também de entender como ao longo da sua vida profissional, o trabalho de pesquisa, crítica, curadoria e ensino foi se costurando.
Kênia Freitas – A minha formação de graduação é em jornalismo. Há alguns anos não havia tantas graduações em cinema de onde eu era, que é no Espírito Santo, na UFES. E havia dentro do curso de jornalismo muitos projetos de extensão e grupos de pesquisa que iam justamente para essa área da pesquisa de cinema. Então, uma parte importante desse processo formativo, mesmo na graduação, foi a participação em cineclube. Foi dentro do cineclube que comecei a me interessar por pesquisa em cinema, em crítica de cinema e a trabalhar na realização de pequenas mostras. Tudo isso foi caminhando para essa decisão de seguir estudando no campo, e aí fiz o mestrado e doutorado nessa área de cinema documentário e cinema de novas tecnologias e paralelamente fui aos poucos me aproximando da área da crítica, escrevendo textos e acompanhando festivais.
Primeiro entrei no Cineplayers por volta de 2010, e aí esse fazer crítico foi se tornando uma coisa muito complementar das pesquisas acadêmicas. Essas coisas não estavam exatamente no mesmo lugar, tinha uma outra lógica, tinha um outro lugar de participação, mas que acabavam sendo um jeito de estar próximo e de aprofundar um pouco os estudos de cinefilia e de escrita também. Logo depois vieram as experiências de trabalhar com mostras de cinema fazendo produção de cópias, trabalhando com acervo e entendendo como funcionam os direitos autorais. E depois veio o fazer curatorial.
Fiz a minha primeira curadoria em 2015, que foi uma mostra de afrofuturismo para um edital de ocupação da Caixa, e isso foi se tornando também parte da minha pesquisa sobre cinema afrofuturista. Ela nasce mais ligada ao campo curatorial e aos poucos vai migrando para o campo da pesquisa acadêmica, depois eu vou pesquisar no pós-doc, escrever artigos, etc. Então acho que esses campos vão acontecendo paralelamente, mas também um pouco separados. Eles se encontram bastante nesse atravessamento feito pelos estudos de Cinema Negros, que é pensar esse lugar de estar fazendo curadorias, de escrever crítica e de fazer pesquisa acadêmica voltada para o campo de pesquisa de afrofuturismo, da afrofabulação e da fabulação crítica. No momento que eu entro como professora na Universidade Federal de Sergipe (UFS), que foi em 2023, isso tem continuação também com as pesquisas e pensando também em projetos dentro da universidade, de formação, que tenham esse perfil.
FICINE – Você como curadora e crítica sente que esses seus trabalhos se retroalimentam?
Kênia – Acho que é importante pensar que eles têm funções de atuação diferentes. Eles se retroalimentam muito no lugar desse contato permanente com os filmes, de um certo entendimento do que está sendo feito, do que está sendo proposto. Uma coisa que os dois campos têm em comum é essa percepção, que não é só pontualmente para filmes ou para uma mostra de cinema, de tentar entender e de pensar o campo do cinema brasileiro de uma forma mais geral. Entendendo que tipo de produção está sendo feita e quais são os filmes que têm participado de festivais.Tentar olhar para certas tendências que se colocam a cada momento e como elas vão se transformando. Esse olhar é bastante importante para fazer curadoria, sobretudo dentro de uma lógica de festival com inscrição, mas que também é bem importante para a escrita crítica, em que se escreve quase sempre sobre filmes mas também sobre esse diálogo do que tem sido feito. Então pensar os filmes dentro de um olhar mais panorâmico é fundamental.
Penso que na minha relação com curadoria em geral há uma relação de muito cuidado e zelo com os filmes, o que não quer dizer que a gente só exibe os filmes que gosta. A proposta curatorial em geral pensa muito em como colocar os filmes para serem exibidos da melhor forma possível, ou seja, como pensar essa programação, pensar nos públicos, pensar esse encontro filme-público. Mas também levando muito em consideração esse gesto de confiança de as pessoas aceitarem terem seus filmes exibidos, ou seja, esse lugar de ter um compromisso grande com os filmes e com quem faz os filmes.
A crítica pode ter muitas posturas, mas em determinados momentos eu acho que é importante que ela tenha uma postura um pouco mais afastada ou combativa. Que ela realmente se coloque no lado externo disso, para pensar os filmes nesse diálogo grande com quem assiste. Então esse cuidado e esse zelo não são a preocupação número um para se ter. Pode até ser uma das preocupações dependendo do que está se propondo, mas que há também um lugar muito direto para uma possibilidade de questionamento e confrontação que a crítica pode e deve ter em determinados casos.
FICINE – Vamos falar de cinema negro agora e quero começar falando sobre a questão da autoria. O que você percebe como autoria negra no cinema e se você acha que ela precisa ser diferente do conceito ocidental de autoria.
Kênia – Acho aí que tem duas questões numa só. De uma forma mais geral, eu nem acho que no cinema negro a autoria deva ter uma definição diferente dos cinemas não negros. Uma questão que a gente precisa ampliar em relação à autoria é de realmente não pensar só no lugar da direção. O cinema é uma arte coletiva e ele tem diversos lugares de criação. Pensando mais classicamente nós temos as cabeças de equipe, as cabeças criativas, o roteirista, o diretor de fotografia, diretor de arte, enfim, todos esses lugares que estão juntos e que vão orquestrar um certo lugar de pensamento estético e reflexivo que os filmes têm e que tem a ver com esse processo de criação e de autoria.
Nesse contexto mais canônico da política dos autores da nouvelle vague, a direção assumiu um papel muito fechado. Então se de fato a gente quer pensar sobre outras perspectivas, não só nos cinemas não hegemônicos mas no cinema hegemônico também, e pensando nas dificuldades, nos arranjos, é importante pensar também nesses outros lugares. Porque, em geral, dentro de um certo lugar de uma cinefilia se olhava muito para o autor como esse gênio isolado, como se isso não estivesse sendo feito a partir de muitas partilhas, das quais os filmes em geral resultam.
Por outro lado, quando a gente entra na discussão dos cinemas negros, estamos falando necessariamente também não só de uma discussão estética, mas sobretudo de uma discussão política. O que vai começar a moldar esse campo, historicamente, é também um lugar de uma reivindicação diante de uma desigualdade, diante de uma não presença, diante de uma presença muito pouco considerada. Por que a gente precisa falar de Cinemas Negros? Porque também se está dizendo que dentro dos cinemas hegemônicos as presenças negras na autoria, nos papéis de interpretação, na frente das câmeras, atrás das câmeras em outros lugares importantes como roteiro, direção de arte, direção de fotografia, etc, são presenças pouco consideradas, muitas vezes apagadas ou inexistentes.
Então, quando falamos de Cinemas Negros também entramos dentro de uma discussão de reivindicação de ocupação de lugar. E não só uma ocupação por representatividade, mas também uma possibilidade de que esses lugares sejam ocupados dentro de uma diversidade e uma amplitude do desejo de criação. Não é só ocupar para fazer um determinado discurso, para cumprir uma certa tabela temática, uma certa tabela de cotas, no sentido muito deturpado do termo. Como se fosse assim: “ah agora temos aqui dois filmes de cineastas negros, não precisamos ter mais”. Mas pensar em uma possibilidade que questione, que amplie e que pense como o racismo e a anti negritude, por serem componentes estruturais da sociedade, podem ser combatidos por essa ocupação do cinema. De forma que não só no lugar de conteúdo, mas no lugar de uma possibilidade de pessoas negras fazerem filmes e fazerem os filmes que quiserem. Por isso é necessário falar de cinema negro feito por pessoas negras, porque cinemas brancos de assuntos negros é o que historicamente compõe a cinematografia brasileira. Ou seja, o negro ser assunto, mas o negro não ser criador das suas próprias histórias.
A discussão nesse lugar de reivindicação de autoria de cinemas negros diz respeito menos a uma discussão estética nesse caso e mais a uma discussão política. Diz respeito a como a gente vai olhar historicamente para os números e tentar entender quantas pessoas negras ocupam esses locais de autoria. A gente vai enxergar um processo de desigualdade e de diferença numérica muito grande. Então, de fato, enquanto a dimensão política continuar sendo uma dimensão fundamental, acho indiscutível essa amarração de que autores negros têm que estar envolvidos na produção de Cinema Negro. É perigoso quando a gente volta para lugares que o campo já estava começando a sair, no caso dos cinemas brancos de assunto negro.
FICINE- Falar em Cinema Negro é falar em pluraridade, em Cinemas Negros, no plural. Porém, há a tendência da institucionalidade em querer colocar o Cinema Negro dentro de caixinhas para poder dizer o que ele é ou que ele não é. Qual você acha que é o papel da curadoria para tentar quebrar essa lógica e, no mesmo embalo, qual o papel em sala de aula e das universidades de cinema de forma mais ampla diante do Cinema Negro Brasileiro?
Kênia – Uma coisa que é o papel da curadoria, mas que também é um papel da sala de aula, é o de recuperar e pensar nisso não a partir somente dos campos teóricos, das caixinhas, mas a partir dos filmes que existem. Porque a curadoria vai estar o tempo inteiro pensando uma proposição de exibição conceitual, mas que se faz a partir de filmes que foram feitos. E por que digo isso? Porque quando a gente vai para esse campo amplo de Cinemas Negros não devemos olhar pra o que a gente gostaria que os filmes fossem, mas pra o que os filmes são. Aí gente imediatamente encontra essa pluralidade, porque os filmes e os cineastas não estão pensando só em fazer filmes de Cinema Negro que se encaixem na classificação A ou B, que vão ter boa representação, que vão ter representação positiva, ou que vão ter temáticas específicas. Porque teremos um campo muito variado de produção. ]
O papel curatorial e o papel da sala de aula é tentar inverter esse processo de pensamento de se afastar dos filmes para criar caixinhas em que os filmes têm que se encaixar, para tentar de fato lidar com os filmes que existem, que vão se descobrindo e que vão se percebendo, que podem ser pensados dentro desse lugar dos cinemas negros. Porque aí é um percurso diferente. É o contrário. No lugar de colocá-los dentro de categorias que já existem, você lida com os filmes para pensar em categorias que podem existir. No livro Film Blackness, o Michael Gillespie fala muito dessa ideia que eu gosto que é pensar filmes pretos não como uma resposta mas como pergunta. E aí que a lógica muda um pouco. Bom, a partir desses filmes que foram dirigidos, produzidos, autorizados, fotografados por pessoas negras e que a gente considera que têm uma relação com o campo dos Cinemas Negros, que perguntas que a gente pode fazer?
O processo com a sala de aula é um pouco parecido. É também esse exercício de tentar juntar o percurso teórico e histórico, que obviamente vai se compondo, que já existe e que ajuda a gente a entender um certo processo de acúmulo das discussões de Cinema Negro, mas sempre trazer muito de perto os filmes, porque os filmes sempre vão colocar outras perguntas. Os filmes sempre vão indicar caminhos e lugares que não necessariamente você vai conseguir encaixar nas caixinhas.
FICINE – Agora quero falar sobre afrofuturismo. Nos últimos anos, o afrofuturismo se tornou um nome presente na cultura pop, posso citar como exemplo filmes como Black is King da Beyoncé e o Pantera Negra (Ryan Coogler), dos estúdios Marvel. Na música o afrofuturismo também está presente no trabalho de artistas como Erykah Badu e Janelle Monáe. Porém o conceito muitas vezes é trabalhado de forma flutuante, sem muita definição e é lido mais como uma estética. Como você enxerga essa utilização do afrofuturismo feita pelo mainstream?
Kênia – Um lugar interessante é não pensar o afrofuturismo como um ponto final, só pra dizer se uma produção é ou não o afrofuturista. Talvez seja mais interessante pensar como é que esse movimento pode ser uma lente crítica para pensar uma determinada produção. Nesse caso, isso cabe também para as produções independentes, não hegemônicas. Se a gente pensar que as primeiras discussões do Afrofuturismo estão dentro do campo da música experimental, como na obra do Sun Ra, também no techno de Detroit, que foi mais mainstream, mas que também teve lugares específicos de proposição de criação.
Se você pensar num artista como o George Clinton do Parliament-Funkadelic que desde o começo vai ser bem importante e que também estava num lugar de produção muito mais conhecido. O que cabe dentro desse campo para a discussão desses filmes como Pantera Negra e o Black is King da Beyoncé é pensar como é que essa lente crítica afrofuturista pode ajudar a pensar questões sobre esses produtos. Porque acho que a gente sai de um lugar em que o afrofuturismo vira um rótulo de venda e volta para o lugar em que ele vira uma proposição de pensamento. E isso vai se ligar muito fortemente com as discussões dos Estudos Negros, da Imaginação Negra Radical, de campos de pensamento estético e teórico de pessoas negras que já estão se colocando há muito tempo.
Essa captura dos gêneros pelo mainstream é uma coisa que vai acontecer. O capitalismo trabalha para transformar coisas que vêm de uma produção não hegemônica em produtos de massa que vendem em cima de uma facilitação, de uma simplificação do que esses conceitos querem dizer. Mas acho que o que cabe também dentro dessa discussão é uma não recusa disso, mas um entendimento de como é que a gente adensa a discussão. Então não é um problema existirem esses produtos. O problema é ficar na superficialidade dessa conversa. Não deixar essa captura também apagar uma construção de um pensamento que vem aí há 30 anos.
FICINE – Gostaria de tensionar os conceitos de afrofuturismo e afropessimismo com você. Ambas essas correntes trabalham a partir da violência da ausência, porém elas diferem com relação às suas visões de futuro. Você acha válido colocar essas duas correntes de pensamento em atrito? Os futuros imaginados pelo afrofuturismo são mesmo palpáveis ou seriam os afropessimistas muito derrotistas?
Kênia – Não acho que esses campos estão em locais opostos. Eles estão propondo coisas diferentes, o que não necessariamente significa que eles estão em campos de conflito, porque eles não estão falando sobre a mesma coisa. O afrofuturismo tem uma proposição especulativa de criação artística de tentar trabalhar com noções de temporalidade e em muitos momentos propor visões de futuros negros possíveis usando o campo da ficção especulativa como motor. Uma definição que gosto de pensar para o afrofuturismo é de que você junta de um lado autorias negras junto com o campo da ficção especulativa a partir de histórias que vão falar de experiências negras, que podem ser as mais variadas possíveis.
Essas imaginações muitas vezes vão propor lugares de futuro que podem ser tanto utópicas quanto distópicas. Então o afrofuturismo, ele tem em si muitas proposições de futuro que não são necessariamente melhores para a população negra. Embora tenha gente que define o afrofuturismo dessa forma, vários dos filmes que a gente coloca dentro desse campo do afrofuturismo são na verdade distopias. Uma grande parte dos filmes que eu estava tentando pensar nessa pesquisa de afrofuturismo se constitui em obras que, ao invés de estarem pensando em futuros melhores, imaginam futuros piores e em fins de mundo.
Então, como é que esses filmes, que estão trabalhando num campo distópico, dialogam? Eles dialogam muito com uma certa perspectiva afropessimista. E o afropessimismo não está necessariamente olhando para o futuro. É inclusive o contrário. Ele está tentando falar muito diretamente dos nossos presentes e dizendo que o passado não foi superado. Que é o processo de escravização das pessoas negras, que não é só um processo de trabalho forçado, mas sim de desumanização. Que é também um processo de morte social das pessoas em vida. Esse passado ainda continua a moldar um lugar de como a nossa sociedade se estrutura e de como é que se explica todo o racismo e a anti negritude das sociedades ocidentais. Essa desumanização negra, que é o motor organizador do processo de escravização, não acaba com a abolição das escravidões.
Na discussão dos afropessimistas ela permanece e vai justificar porque no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países a gente tem esse processo tão grande de assassinato de pessoas negras pelas polícias, por que a gente tem esse encarceramento em massa da juventude negra, etc. Porque o que está cercando essa construção é ainda esse processo de desumanização. Então, o negro pode ser preso, pode ser assassinado pois não faz parte de um certo lugar de ser humano dentro da sociedade. Muitos desses filmes que partem do afrofuturismo, mas que são distopias, estão se colocando também nesse lugar afropessimista.
Óbvio que isso vai se contrapor com algumas leituras do afrofuturismo que vão dizer que o afrofuturismo é imaginar futuros melhores para a população negra. Mas isso é muito pequeno dentro do que a gente tem de produção especulativa negra. Então para o afropessimismo é necessário que a gente parta do princípio da desumanização para que consigamos discutir algumas coisas sobre Sociologia, sobre História, sobre Filosofia, etc.
Por um lado, o afrofuturismo vai dialogar em alguns lugares com essas disciplinas, algumas vezes indo junto e pensando nesse especular sobre esse futuro dentro desse pacto de desumanização, e por outro lado às vezes nessa tentativa de propor outros caminhos. Então nós nos esbarramos em uma dificuldade muito grande, que é pensar quais produções de fato conseguem imaginar um futuro melhor dentro de uma lógica que não seja uma lógica desumanizada. Há lugares em que esses conceitos se tencionam, embora não ache que eles estejam em oposição.
FICINE – Para finalizar, você gostaria de citar nomes de filmes ou o trabalho de diretores do cinema negro contemporâneo que mais tem chamado a sua atenção recentemente?
Kênia – Uma coisa que eu talvez eu me sinta mais confortável de citar é falar para as pessoas acompanharem as mostras de Cinemas Negros, como o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul (@centroafrocariocadecinema) no Rio de Janeiro; a Egbé (egbecinemanegro) aqui em Aracaju; a Semana De Cinema Negro (semana.cinemanegrobh), em BH; tem uma mostra no Mato Grosso (@quaritere); tem uma mostra em Curitiba, o Griot (@festivalgriot); pensando cinemas negros e indígenas tem o Infinitas (@infinitafestival), no Ceará, e Mostra Quilombo Cinema (@mirante_cineclube) em Alagoas. Enfim, tem muitas outras.
São nesses lugares que a gente encontra uma diversidade de filmes. Alguns nomes existem já há alguns anos, alguns até felizmente há décadas. E o que surge nessas mostras às vezes não vai para os festivais de cinema brasileiro maiores. Mas são produções que estão reinventando os campos de Cinemas Negros no Brasil. Fazendo isso de uma forma não centralizada, não estando dentro de proposições únicas, mas de maneiras muito variadas. Então, talvez eu fique mais confortável em citar alguns festivais, e dizer pra acompanharem esses trabalhos, que eu acho que nos ajudam muito a chegar em filmes de uma maneira muito ampla.