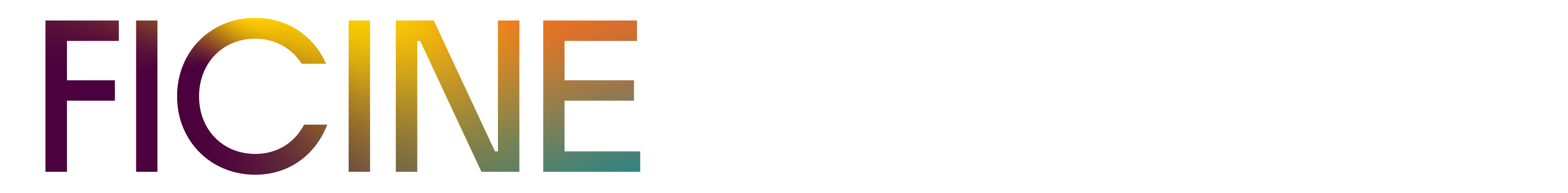Vinicius Dórea
Entre a artesania espiritual e a experimentação formal, Yhuri Cruz tem construído uma obra que tensiona o arquivo, a cena e a própria ideia de imagem como monumento. Herdeiro de uma ética teatral que coloca o espectador no centro e de uma pesquisa visual que desloca os limites do cinema, ele cria dispositivos que ativam presença, memória e imaginação negra para além do registro colonial. Do gesto de retirar a mordaça de Anastácia à elaboração de “monumentos espirituais”, Yhuri insiste na voz como feitiço e no tempo como aliado, criando brechas para que a comunidade se emancipe e para que novas narrativas atravessem os períodos históricos que a branquitude monopolizou. Nesta entrevista, ele reflete sobre arquivo, cena, pretofagia, artesania digital e cinema negro, enquanto apresenta as forças que movem seu novo filme, Voz Zov Vzo (2025).
FICINE – Na sua prática artística, você frequentemente posiciona o arquivo como um “inimigo”, por ser insuficiente para registrar experiências que transcendem o papel, experiências que o seu corpo e o seu fazer artístico carregam. Diante disso, a cena emerge como um dispositivo central no seu trabalho. Gostaria de saber: o que cabe na cena, como seu espaço-tempo de performance, que o papel/arquivo não consegue dar conta?
Yhuri Cruz – Eu encaro o arquivo de duas formas: primeiro, como amigo. Começo a minha carreira me debruçando sobre o arquivo afrodiaspórico, o arquivo negro. E não só eu. Desde 2016, 2017, muitos artistas têm se debruçado sobre o arquivo como um recurso de sobrevivência, de memória e também de escavação, para tentar se encontrar um pouco mais. Eu acho isso incrível e é o que eu faço. No entanto, citando as palavras da Saidiya Hartman, professora da Universidade de Columbia, o arquivo é a tumba que a gente tem que ter coragem de encarar. Então, ao mesmo tempo que o arquivo é esse amigo, ele também tem um quê de tumba e eu sinto que nela a gente se aprisiona demais.
Então, quando eu falo que o arquivo é meu inimigo, é justamente porque eu acho que ele é um dos responsáveis por fixar a arte negra e a arte afrodiaspórica em um lugar que não consegue imaginar além do arquivo. Isso me preocupa um pouco, porque a gente está sempre se remetendo ao arquivo como se a gente não tivesse outros recursos de imaginação. E eu acho que especialmente o arquivo da escravidão, que é um arquivo colonial, de forma geral, acaba aprisionando demais a imaginação negra que busca ser anticolonial. É como se ser anticolonial tivesse sempre que se remeter ao arquivo da colonialidade. Eu acho que isso é prejudicial a uma ideia de construção de um self, sendo esse separado de um self identitário, que pertence a algum tipo de historiografia fixa no tempo. Ou seja, é um self que pode ser livre, um que, além de qualquer coisa, é gente, sabe?
Tem muitos trabalhos meus que eu faço referência ao arquivo, justamente porque discuto a negritude. Mas eu estou pensando também em ir além dele. Quando falo que o arquivo é inimigo, é justamente porque eu estou um pouco cansado de fingir que pela minha imaginação só passam essas imagens, quando não é verdade. Há também imagens da natureza, imagens da ficção científica, imagens do gozo, do prazer e outras imagens do corpo que não estão nem um pouco ligadas a esse arquivo preto, como se fosse apenas um arquivo colonial.
Você me perguntou o que cabe na cena, não foi? Na minha cena particular, eu estou muito preocupado em fazer a pretofagia. A pretofagia é como eu me refiro ao meu trabalho desde 2018, e é o meu método, é a minha prática. E a cena pretofágica está interessada em, primeiramente, trair a linguagem do que é a cena. Então, se estou nas artes visuais e eu entendo as artes visuais como um espaço de trânsito, de baixo engajamento pessoal com a obra e de uma certa elitização da presença, vou tentar sair desse espaço fazendo cenas. Fazendo uma cena que vai tentar produzir obras de alto engajamento, ou seja, obras de massa, que vão tentar construir um espaço que traia essa linguagem, que traia essa expectativa do espaço e da ética do espaço.

FICINE – Em Voz Zov Vzo, você propõe um cinema negro que dialoga com o arquivo, com a cena e com a história da ditadura militar. Como você enxerga essa relação entre formato cinematográfico e arquivo na sua prática?
Yhuri Cruz- O cinema está muito interessado no arquivo e em um espaço que, de forma geral, está refém de uma indústria cinematográfica específica, que é uma indústria do formato. E não estou tão interessado nesse formato. Claro, existem muitos tipos de cinema e eu sou um cineasta super jovem, com três filmes. O Voz Zov Vzo pensa justamente em criar, primeiro, um espaço de filme cênico. Estou falando de um espaço da negritude, de um cinema negro que está discutindo também um espaço cênico dentro do próprio cinema. Em Voz Zov Vzo eu discuto um pouco do arquivo negro, mas dentro de um lugar em que esse arquivo foi pouquíssimo explorado, que é o tempo da ditadura militar brasileira.
Trata-se de um tempo amplamente representado pelo cinema brasileiro, mas majoritariamente narrado pela branquitude. Muitos dos filmes brasileiros de maior circulação internacional se concentram nesse período, consolidando uma cinematografia marcada pela ditadura. Meu interesse foi revisitar esse tempo a partir de uma perspectiva negra, criando espaços de diálogo entre cinema, negritude e arquivo, e tensionando essa tradição.

FICINE – Seu trabalho “Monumento à Voz de Anastácia” devolve a voz à santa ao remover sua mordaça. Já em “Voz, Zov, Vzo”, vemos um grupo que só é ouvido quando fala no microfone do estúdio. Ambos os trabalhos tratam do mesmo tipo de “mordaça” social, ou a mordaça em “Voz, Zov, Vzo” é de outra natureza?
Yhuri Cruz- Acho que Monumento à Voz de Anastácia e Voz, Zov, Vzo lidam com o mesmo problema: a voz enquanto questão. Nos dois trabalhos, a voz é o eixo central. No Monumento à Voz de Anastácia, trato de uma voz devocional, uma voz histórica devocional. Então, a ética desse trabalho é uma ética que responde à manutenção dessa voz devocional. Já em Voz, Zov, Vzo, estou lidando com uma voz histórica muito mais ligada à política, incluindo a política do cinema. Existe uma política cinematográfica fortemente associada ao período da ditadura militar brasileira, e esse contexto histórico informa o filme. O filme é um musical de silêncios. Ou seja, como você faz um musical onde as pessoas não cantam?
No filme, o espectador não consegue ouvir o que está sendo dito em cena, a não ser que o personagem esteja diante do microfone. O microfone acaba sendo o antagonista do filme. Ele é o inimigo do filme. Ele é uma metáfora para o espaço da voz negra limitado ao púlpito, restrito a uma voz pública. É como se a voz negra não pudesse cantar uma subjetividade, apenas uma objetividade política de si. O trabalho do Monumento à Voz de Anastácia, por se tratar de um trabalho devocional, a dimensão religiosa envolve subjetividade, intimidade e vulnerabilidade. Para mim, esse monumento é a salvação de todos os meus trabalhos que lidam com repressão. É um trabalho que é a libertação de uma imagem histórica que informa pelo menos umas três gerações de afro-brasileiros, especialmente os que seguem a Umbanda ou seguem religiões dessa matriz afro-brasileira, e que estão ali, de alguma forma, tendo uma devoção a uma imagem de sujeição. E eu acho que o trabalho é assistir a sua imagem de sujeição livre. Reze para ela. E reze da mesma forma.
Em Voz, Zov, Vzo, o pano de fundo é a ditadura militar, um tempo em que pouco se falou sobre negritude fora do contexto da favela e do movimento black soul. Acho que existem filmes que lidam com isso já tem um tempo. Mas o meu filme, em poucas palavras, afirma: se alguém deseja ter voz, o microfone não basta. É preciso abandoná-lo. O microfone não pode ser o único espaço permitido para falar ou cantar.
FICINE – Yhuri, a voz, a boca e as arcadas estão muito presentes no seu trabalho. Em um país onde monumentos físicos muitas vezes celebram opressores, o que significa para você erigir um monumento com palavras? Seria a voz um feitiço?
Yhuri Cruz- A voz é completamente feitiço. Retomando a questão do arquivo, sinto que o arquivo, e já falei isso em outras entrevistas, é a justificativa formal da aniquilação humana, porque uma vez arquivadas, sociedades podem ser dizimadas. Especialmente dentro da perspectiva ocidental de arquivo, que é a perspectiva da catalogação. A voz, para mim, tem algo de feitiço no tempo porque o arquivo da voz só existe no lugar da escuta: a voz só se torna arquivo quando há alguém ouvindo. Ou seja, a voz é um arquivo da comunidade e, mais do que isso, é um arquivo livre da comunidade. O espaço oral e a memória oral me interessam profundamente, e a voz funciona como metáfora dessa memória.
Eu tenho uma série de trabalhos que eu chamo de monumentos espirituais: O Monumento à Voz de Anastácia é o principal deles. Há também o Monumento-documento à presença (2018), Monumento a Oxalá e aos Trabalhadores (2019), a Noite Faminta (2021). Faço esses monumentos porque eu estou muito interessado nessa construção que têm uma larga escala espiritual. Ou seja, é uma escala do engajamento que não está ligado à escala física nem à territorialidade. É uma escala do engajamento espiritual. Erigir um monumento envolve sempre uma demarcação de poder. Os monumentos que crio buscam demarcar o poder de entidades, figuras ou situações que não se orientam pelo tempo físico, mas por um tempo do espírito, um tempo mais generoso, aquilo que sobra de nós e que realmente nos atravessa. Muitos dos meus trabalhos lidam com viagem no tempo. O tempo é central para mim: sou filho do tempo e profundamente devoto a ele e a esse jogo de brincar com suas possibilidades. Especular o tempo implica assumir a responsabilidade do arquivo, mas também abrir espaço para o sonho. Isso me parece essencial.
FICINE – Inspirado por perspectivas de alguns povos do oeste africano que veem o artista como um sacerdote, um artesão do sagrado, fiquei pensando no seu gesto de retirar a mordaça de Anastácia. É um ato de artesania espiritual que não apenas ressignifica um símbolo, mas parece conceder a ela um novo poder de ação no mundo. Considerando a oração no santinho de “Anastácia Livre”, que fala sobre “curas, graças e milagres”, quantas dessas intervenções, sejam simbólicas, políticas ou espirituais, você acredita que “Anastácia Livre” já realizou até agora, através da sua circulação na arte, na moda e no imaginário coletivo?
Yhuri Cruz: Acho interessante essa visão do artista como sacerdote, porque a ética do meu trabalho está profundamente ligada ao espectador. Venho do teatro, e o teatro é um espaço em que o espectador é prioridade na dinâmica de poder e na própria linguagem. Quando passo para as artes visuais, levo comigo essa centralidade do espectador. De forma geral, percebo que a arte visual opera num lugar bastante autocentrado, quase eliminando o espectador; há nela um quê neoliberal que me desagrada, uma espécie de expropriação da própria forma, em que o artista cria e recria incessantemente sua obra até chegar ao produto mais belo possível, muitas vezes distanciado da relação com o público.
No teatro e no cinema, embora também haja pesquisa formal do autor, do diretor ou do texto, essa pesquisa acontece diante do público, em comunidade. Isso, para mim, tem um aspecto divino, ou talvez comunitariamente divino, porque tanto o teatro quanto o cinema são práticas comunitárias. É desse ponto que parto: meus trabalhos estão interessados na comunidade e no tempo da minha comunidade. Busco criar obras que abrem brechas de emancipação. Na definição que uso, pretofagia é trair a linguagem para emancipar movimentos; essa emancipação é parte central da minha prática. Embora seja uma ideia abstrata, estou sempre tentando chegar ao âmago dessa abstração.
Sobre a artesania espiritual que você mencionou: o Monumento à Voz de Anastácia é, sem dúvida, um gesto artesanal, mas é uma artesania digital. Se artesania está ligada às mãos, aqui são as “mãos digitais”. Com Photoshop, retiro a mordaça, busco uma boca no arquivo e a insiro na imagem. Já Voz Zov Vzo é um filme que realizei em 2021, num momento diferente da minha vida, com baixíssimos recursos. Apesar disso, ele busca emancipar a imaginação sobre a ditadura militar brasileira, um período em que pessoas negras não estavam ausentes, não eram inexistentes. Não estou reivindicando protagonismo negro na ditadura, mas sim uma presença e uma voz negra que também atravessaram aquele tempo. Estou sempre tentando puxar um fio de voz negra através dos tempos e de diversas formas.