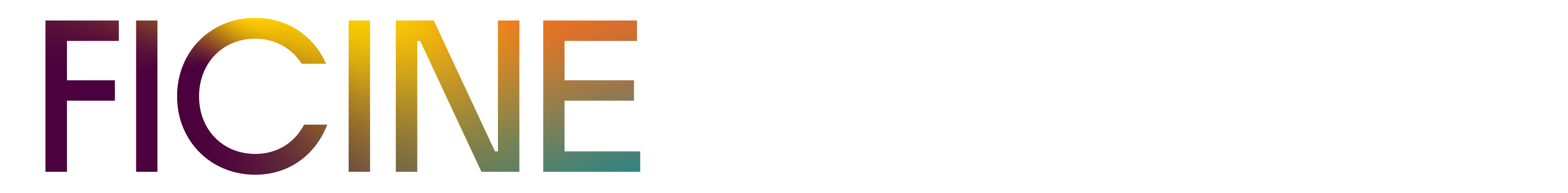Um mês inteiro dedicado a revisitar a obra de um dos maiores cronistas – em cena e fora de cena – do Brasil: Grande Otelo, o ator, mas também cantor, compositor e poeta foi foco da Mostra Intérprete do Brasil, que aconteceu no Cine Humberto Mauro, em Belo Horizonte, durante junho de 2025. A mostra teve curadoria de Fábio Rodrigues Filho, pesquisador que há vários anos trabalha com uma pesquisa sobre essa figura fundante do cinema brasileiro. Conversamos com Fábio sobre as ideias que deram contorno a essa curadoria e podemos dizer que, nas próximas linhas, estamos diante de um documento muito importante para pensar a história desse mesmo cinema. A entrevista foi feita por Vinícius Dórea.
(importante: acessem aqui o catálogo da mostra!)
FICINE – Fabio, você realizou a curadoria da Mostra Intérprete do Brasil que posiciona o corpo negro de Otelo como central na história do cinema brasileiro. E fiquei pensando que esse ano o Otelo faria 110 anos e o cinema brasileiro acaba de completar 120 anos. Há, então, uma relação muito aproximada entre esses dois tempos históricos. Como a mostra articula a obra de Grande Otelo com alguns títulos contemporâneos, gostaria de saber como você percebe a importância de Grande Otelo na continuidade da escrita da história do cinema brasileiro ainda hoje.
Fabio Rodrigues Filho – Primeiramente, há uma questão nebulosa sobre essas datas, que talvez seja onde o jogo começa. Veja, alguns biógrafos do Otelo já colocaram em suspeita essa questão do Otelo ter nascido em 1915. É muito possível que ele tenha mentido o ano de nascimento para justamente trabalhar mais cedo. Então tem uma questão sobre essa efeméride de 110 anos, mas ainda assim, em que pese essa atitude feita, é de fato alguma coisa para celebrar mesmo. A história do cinema brasileiro se confunde com a história do Otelo, e vice-versa. O Otelo transitava entre diferentes campos: foi compositor, sambista, entrevistador e poeta. Mas, fundamentalmente, no cinema, ele atravessou períodos decisivos. Então, uma coisa interessante que esta mostra faz tem a ver com uma certa dimensão celebrativa, mas não repousa só nisso.
É por isso que gosto de chamar a atenção para essa suspeita da data, porque é preciso celebrar, mas tem um outro trabalho, que é olhar Otelo a partir do agora, do hoje, desse momento histórico do cinema brasileiro em que estamos. Por isso, o título da mostra: “Intérprete do Brasil”. Intérprete de pelo menos três esferas: A primeira é de um ator que encarnou personagens que atravessaram uma história. Ele esteve presente em filmes da chanchada, cinema novo, cinema marginal, e houve as suas passagens entre um período e outro.
A segunda dimensão do intérprete seria aquela relacionada àquele que comenta, que observa criticamente. Seria essa dimensão da interpretação, como atualmente falamos, da interpretação pessoal ou de imagem. É aquele que não só, portanto, encarnou, mas observou criticamente. Nós podemos fazer o movimento de discordar dessa interpretação, mas acho que é importante reconhecer que ele também foi um observador crítico, inclusive nos filmes. A professora Leda Maria Martins esteve com a gente em uma sessão e ela apontou justamente sobre a posição do ator grande Otelo no filme Assalto ao Trem Pagador.
E tem uma terceira dimensão, que não pode deixar de ser levada em consideração e que vem junto à pesquisa do professor Luis Felipe Kojima Hirano, de onde parte o título da mostra, que é a dimensão do intérprete como tradutor, mediador entre mundos. Esse trabalho do Otelo me parece bastante relevante, porque está nos filmes e nos personagens que ele encarnou, mas ele mesmo como um ator social, na sua vida, na sua postura, fez também, ao seu modo, essa forma de tradução. Ele era, ao ser intérprete, também tradutor de profundezas de um certo Brasil, que quis usar ele, que o quis como personagem de uma certa narrativa de país. E o Otelo, ao seu modo, escapou. Ele escapou da condenação, do aperto e sobreviveu. Fez isso inventando uma poética própria, inventando uma forma, que podemos chamar de um leque de estereótipos.
Mas tinha também a ginga, a inteligência e as tentativas de driblar um sistema muito codificado para o ator negro como um todo, particularmente para ele, que por muitas vezes foi infantilizado e colocado só no campo da comédia. Quando, na verdade, a gente pode pensar em alguns filmes em que o Otelo tinha traços de um certo regime de atuação da comédia mas também fazendo um drama. Também Somos Irmãos, por exemplo, é um filme estritamente dramático mas também que tem um certo tom de comédia e eu enxergo um Otelo muito plural ali.
Então sobre a mostra, a ideia geral era utilizar a luz do agora e olhar Otelo na sua multiplicidade de forma digna múltipla e contraditória e apresentá-lo a uma nova geração que, porventura, não tenha conhecido ele. O Otelo morreu em 1993, já são 32 anos da sua morte e isso quer dizer que pelo menos duas gerações não conheceram Otelo. Ele fez mais de 118 filmes, a gente exibiu apenas 37, mas, ainda assim, são traços de um ator que ainda temos muito a conhecer, a explorar e a investigar.

FICINE- No seu filme Tudo que é apertado rasga, você utiliza a montagem como método para costurar um pensamento em torno do ator negro brasileiro. Me parece que, com essa mostra, você dá continuidade a esse trabalho de construção de sentido, agora por meio da seleção e justaposição de filmes que, ao se relacionarem, também se transformam. Gostaria que você comentasse sobre esse processo curatorial, especialmente pela escolha de abrir a mostra com The Kid, do Charles Chaplin, o que me pareceu uma decisão tão inesperada quanto interessante.
FRF – Vou começar pelo último dado que você citou porque eu acho que ele é importante. Aquela exibição do Charlie Chaplin pra mim é o prólogo da mostra. E isso tem muito a ver com o meu trabalho na montagem. Eu adoro prólogos, tendo a fazer filmes que vão ter prólogos porque me lembra um pouco uma peça teatral. Sei que não é a mesma coisa, mas tem um pouco dessa questão de pensar a montagem como um espetáculo teatral. A minha pira de fazer imagens ou especialmente de fazer arquivos contracenarem vem um pouco desse delírio meu, que informa a minha prática. E na mostra a gente tentou experimentar isso, eu propus que tivesse essa exibição do Charlie Chaplin como um prólogo porque The Kid foi um filme muito importante para o Otelo. Volta e meia ele coloca esse filme como um filme paradigmático para ele começar a atuar no cinema. Foi muito curioso que o Chaplin abriu a mostra porque eu tenho a impressão que esse modo da comédia é um tanto clownesca. Por vezes naquilo que o clown tem que é do pensamento sobre a mecânica do riso e também do drama que está por trás disso. E aqui nós podemos falar de uma gramática otelística de atuação, que vai desde arregalar os olhos, trejeitos, caretas, entonação da fala, etc. No próprio Assalto ao Trem Pagador, acho que tem um modo como o Otelo anda, que me lembra um tanto traços do próprio Charlie Chaplin.
Quanto ao meu trabalho de montagem nos filmes e a relação com a mostra, tenho a impressão que o meu trabalho já na montagem parte de uma perspectiva curatorial porque estou selecionando e vendo os filmes para depois escolher os trechos. Antes de montar o Tudo Que É Apertado Rasga, eu havia começado uma pesquisa para uma mostra chamada “Mostra Performance Negra no Cinema” em Cachoeira – BA, que aconteceu em 2018, junto ao Cineclube Mário Gusmão, que eu fazia parte na época. Durante a pesquisa de filmes para a construção dessa mostra, fui vendo algumas imagens, que podemos chamar de paralelas, que são entrevistas, fotografias, que, a bem dizer, não entrariam na mostra. Mas conforme fui vendo essas imagens, tive a impressão que era preciso uma outra coisa, que não está só na ordem de exibir, que é o que faz uma mostra, não está na ordem só do falar, que é o que, de alguma forma, um cineclube rende após a exibição. Isso porque eu não conseguia falar direito e achava que exibir não dava conta do que se mostrava conforme eu ia entrando nesses arquivos.
Um exemplo desses é o que está no filme, que é quando a Zezé Motta disse que o Antônio Pompeu morreu de tristeza por falta de oportunidade. Aquele material, em específico, quando eu vi, me doeu profundamente. E assim foi aos poucos que eu entendi que era preciso uma intervenção, porque aquilo não parava de se repetir. Primeiro, tinha a ver com uma certa roda morta. Eu via acontecer com pessoas muito próximas de mim, atores que caíam no ostracismo, que, enfim, entravam em depressão e tinham suas vidas à beira de um abismo, em maior ou menor grau. A gente sabe de histórias como essas, na atuação, mas acho que marca um pouco a história de artistas negros e negras, no geral.
O que eu queria chamar a atenção é que, portanto, exibir e falar não dava conta. Embora exibir e tentar falar tenha sido uma pedagogia muito importante para a montagem, ficava e restava uma certa dimensão incomunicável que eu não conseguia precisar. E aí foi quando eu pensei assim: “eu acho que preciso montar.” Eu preciso mostrar, mostrar o que se mostra, que é um pouco o que a montagem faz, ou pelo menos tenta fazer. Não é o filme tomando posse dos arquivos, mas, ao contrário, é retirando trechos por um momento para devolver aos filmes de origem.
São trechos de muitas obras, de muitos materiais, entrevistas, programas televisivos, etc, para criar uma montagem, retomar uma outra montagem e devolver aos próprios trabalhos. Veja, devolver diferente, tentando mudar um pouco a nossa postura de olhar. Mas acho que tem, sobretudo, uma devolução a quem tem direito, devolver ao território de fato da política, do terreno social, para retirar do juízo final, do julgamento e da condenação. Esses atores, essas atrizes foram condenados não só nos seus papéis muitas vezes estereotipados, mas condenados num certo modo em que foram interpretados. Me parecia, na época, que a história era um pouco mais complexa, que houve tentativas de furar, tentativas de intervenção na narrativa, de realizar um rasgo na imagem. E essas tentativas não foram só nos filmes, mas no próprio tecido narrativo do país que os queriam, de certa maneira, ou somente até certo ponto. Então, estou chamando atenção a isso, porque, embora o trabalho de montagem não se confunda com o trabalho de pesquisa para uma mostra, podemos pensar pontos de interseção, mas são coisas diferentes. Mas foi importante ter feito aquela primeira mostra com aquele coletivo, porque me veio o desejo de intervir nessas imagens, porque elas também me feriam.
FICINE – A Mostra apresenta títulos raros, como Exu-Piá: Coração de Macunaíma e A Força de Xangô, incluindo cópias em película e outras restauradas em DCP. Você poderia comentar sobre os desafios de encontrar essas obras para exibição pública?
FRF – Para operacionalizar uma mostra é preciso uma equipe. Tivemos a Layla Braz, na direção artística, o Vitor Miranda, na gestão do cinema, a Juliana Gusman, na produção de cópias, e a Glaura Cardoso Vale, na edição do catálogo. Uma equipe pequena, mas que a gente esbarrou numa limitação grande, porque alguns filmes que a gente queria que estivessem na mostra não tinham cópias possíveis de serem exibidas. A gente conseguiu os direitos de muitos filmes que a gente queria muito, outros não, mas muitos a gente conseguiu através do trabalho persistente dessa equipe que estava envolvida, especialmente a Layla e a Juliana na produção de cópias. A questão da preservação das cópias é imensamente importante pois possibilita que a gente as veja em 35mm, como é o caso de Amei um Bicheiro, que era um filme muito importante para o Grande Otelo. Também Matar ou Correr, que é um filme que não tem uma cópia digital boa. É muito importante ter uma qualidade boa pois possibilita um pensamento sobre o ator e o trabalho de atuação que faz. A gente viu o Rio, Zona Norte projetado em uma cópia excelente, e isso é fundamental para a gente conseguir complexificar a história do ator e da atriz negra no cinema. Porque a intervenção, a força da atuação, a tentativa de alterar o estereótipo dentro de um sistema muito codificado, muitas vezes está na nuance, no gesto pequeno.
FICINE – Quando pensamos na memória audiovisual negra, a névoa do esquecimento parece muitas vezes não ser acidental, mas construída. A cineasta Adélia Sampaio, por exemplo, falou sobre o desaparecimento dos negativos de seus filmes no acervo do MAM-RJ. Como você lê esse tipo de apagamento? O que isso revela sobre a preservação e a memória da nossa imagem no cinema brasileiro?
Fabio Rodrigues Filho – Esses dias eu estava lembrando do filme Abolição do Zózimo Bulbul. E o Zózimo sempre quis dirigir um filme com o Grande Otelo. Tanto é que no Tudo Que É Apertado Rasga tem um trecho que ele fala assim: “O Otelo é o norte de todos nós que queremos fazer cinema no Brasil.” Há uma história complexa entre os dois. O Otelo já criticou algumas produções do Zózimo, até mesmo o Alma no olho. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa: no filme Abolição, que a gente exibe na mostra e inclusive tem o Otelo, ele é dedicado a algumas pessoas: ao Leon Hirszman, ao Glauber Rocha e ao cineasta negro Hermínio de Oliveira. E eu fiquei bem impressionado com isso porque eu nunca tinha escutado falar sobre o Hermínio de Oliveira. Então fui atrás e achei um texto do Zózimo que falava do Hermínio e de dois filmes que ele havia dirigido. Um filme sendo sobre o Grande Otelo e esses dois filmes estão desaparecidos. Depois fui pesquisando nos jornais e em algumas hemerotecas e fui tentando achar o rastro desse cineasta. Nessa pesquisa inicial que eu fiz eu descobri que ele produziu em volta da ditadura e que ele foi se exilar fora do país. Estou falando disso porque talvez essas estratégias de preservação da nossa memória têm sido feitas especialmente por nós mesmos. Então, pode ser que eu esteja supervalorizando mas tem um certo trabalho de fundar um arquivo nos filmes. Tanto no Tudo Que Apertado Rasga como no Não Vim No Mundo Para Ser Pedra fiz uma tentativa de fundar um arquivo lidando com outros materiais.
Curiosamente, por outro lado, muitos filmes do Otelo, de fato, estão perdidos. Por exemplo, um dos primeiros filmes que o Otelo atuou, que é o Moleque de Tião, que é inspirado na vida dele, está perdido, não existe mais. Não sei se consigo responder direito a sua pergunta mas eu acho que essa mostra tem sido muito incrível, não só porque é uma oportunidade de conversar com o público em geral e com especialistas sobre o Grande Otelo mas também por que acho que tem uma coisa incrível que está acontecendo com ela, que é saber que um traço de um cinema do país que está sendo ali dobrado a partir da memória do Otelo. Esses trabalhos de memória que nós temos feito, cada um ao seu modo, permite que a gente possa recuperar algum gesto esquecido. Isso é também uma insurreição em relação ao cinema que quis na ausência construir não-existências. O que talvez os atores tenham nos mostrado é que não necessariamente a ausência é uma não-existência. A própria Zezé Motta fez um catálogo de atores e atrizes negras (via CIDAN, Centro de Informação e Documentação do Artista Negro), junto com o Antônio Pompeu, para, justamente, não terem desculpas para não contratarem o ator e a atriz negra. Essas estratégias, talvez não nos servem mais hoje mas eu acho que é preciso atentar-se a outras estratégias e contra-estratégias. Mas não só continuar, sabe? Mas também permanecer. Talvez seja isso: permanecer.
FICINE – Fico pensando que esse lugar de celebração na sua curadoria acaba reconstituindo uma presença a partir da falta…
FRF – Eu sempre tenho muito receio com a questão da celebração nos filmes que eu faço, na pesquisa que eu nutro a nível acadêmico e nas mostras que realizo. Acho que é preciso celebrar. O movimento político tem uma certa relação com a festa mesmo. Mas acho que tem uma outra coisa que talvez seja mais importante que a celebração. Na abertura da mostra eu disse assim: “Olha, alguns filmes que a gente vai exibir aqui tem suas grandes complicações. Filmes como Carnaval Atlântida ou Sinhá Moça, eu pessoalmente tenho questões sérias.” Eu falo não só do racismo mas de postulações sobre o racial, sobre hierarquias raciais e essencialismos raciais postulados que estão nos filmes. Portanto, claro que tem uma dimensão celebrativa, mas tem uma outra dimensão que exige uma implicação. Exige um certo diálogo, exige uma certa vontade de se demorar um pouco mais na imagem e não só comemorar. Desde que eu comecei a montar eu digo que é um jogo não ganho. É sempre uma tentativa de transcodificar, de instaurar, de mudar o significado dentro do próprio filme. Essas contra-estratégias de intervenção por parte dos atores e das atrizes, ainda que isso aconteça, são coisas mínimas e talvez a gente precise colecionar esses pequenos momentos para inclusive enquadrar o enquadrador. É preciso entender como a violência se opera e entender como ela se atualiza. Por que o fenômeno do racismo também se aperfeiçoa. Tenho a impressão que é preciso celebrar sim, são existências incríveis mesmo que devem ser homenageadas, mas tem um outro trabalho que a gente não deve se furtar de fazer, que é um trabalho que nos exige um pouco mais de concentração, um pouco mais de calma, não se apressar muito. Porque talvez para ver a contradição ou para entender o modo como a violência opera, é preciso que a gente vá sem tanto furor, sem tanta animosidade. Para que a gente consiga criar, ao nosso modo, estratégias para mudar essa história.
FICINE – Para encerrar, acho que a gente falou de um Otelo geracional, de um Otelo do presente, mas fico pensando se no cinema negro feito por realizadores jovens hoje há ecos, continuidades desse legado de Otelo. Que Otelo ainda vive no cinema que está por vir?
FRF – Nossa, meu Deus, eu não sei responder isso (risos). Quando fiz essa mostra agora, os jornalistas me procuraram para entrevistas. E tem a questão do tempo da pesquisa. Eu comecei essa pesquisa na graduação e agora estou no doutorado, então, é um tempo considerável mesmo pesquisando. E aí percebi que as pessoas vinham a mim um pouco afoitos querendo saber o que eu descobri ao longo desse tempo. Claro que algumas coisas fui criando métodos para demonstrar e qualificar argumentos, hipóteses, caminhos, pelo menos eu suspeito. Mas tenho a impressão, que fui com o tempo me apressando menos em relação ao Grande Otelo. Quando comecei a pesquisa do mestrado houve um momento que eu travei na montagem. Não conseguia fazer e não me satisfazia com aquilo que estava sendo feito. Pensei que ia abandonar o filme e eu tive uma grande crise e ela só destravou quando eu entendi que o Otelo era muito mais que aquilo. O Otelo escaparia daquilo. No fundo não era sobre o Otelo. O Otelo era muito mais do que qualquer filme e pensar assim foi muito importante. Parece uma coisa muito simples, mas não é. E isso me permitiu dar margem para dúvidas, e não me apressar a conhecer. Hoje o Otelo é muito mais misterioso pra mim do que era antes quando eu comecei a pesquisa. Eu tenho mais questões hoje do que eu tinha antes. E quando eu falo que sei menos hoje não significa um niilismo em relação à pesquisa. É por que agora é um saber que precisa passar por um certo nível de discussão, embates e fricção com a matéria real. É preciso consultar as fontes, por exemplo. Então, eu não me apresso tanto assim.
Fiquei muito feliz que essa mostra está acontecendo por tudo isso que você já falou: os possíveis 110 anos de Otelo, por ser no mês em que se comemora o dia do cinema brasileiro, por ser uma mostra no próprio estado onde o Grande Otelo nasceu, por ser uma mostra que a gente consegue exibir títulos muito raros. Wilson Moreira tem uma música que chama Okolofé, feita para o Grande Otelo e ele diz assim: “velho mestre Sebastião Prata, vinho de boa pipa”. É lindo isso, porque conforme o tempo vai passando o Otelo está envelhecendo melhor. A gente consegue com esse lastro do tempo olhar algumas coisas que eu tenho a impressão que antes a gente não conseguia. A gente exibiu Também Somos Irmãos, um filme de 1949. E algumas pessoas falaram que o filme defende a democracia racial. Tenho minhas questões e eu não concordo propriamente com isso. Mas à luz do presente é possível dizer que a gente tem olhado os filmes de outra maneira. Abrindo-se mais a dúvidas e formulando questões mais complexas. Acho que o Otelo fala ao presente e ao futuro. Na vinheta da mostra que eu fiz há um trecho de um programa que chama “Quem Tem Medo da Verdade”, e o Otelo fala assim: “Eu sou o amanhã, eu estou caminhando com aqueles trabalhadores que estão indo pisar para o norte do país”. Tem outra hora que ele fala assim: “Ao me condenar, vocês estão condenando o Brasil”. Acho muito interessante essa estratégia discursiva, porque o Otelo encarnou alguns signos fundamentais para uma certa ideia de identidade nacional: o sambista, o negro, o pai, o alcoólatra, o malandro. No entanto, nesse último trecho é como se ele revertesse a coisa. É ele dizendo por ele mesmo que ele é o país e ele projeta isso para o amanhã. Não à toa, no Também Somos Irmãos, a música que ele compôs, diz assim: “a vida não vale nada, há de passar cem anos até que se esqueçam de mim”. Talvez seja esse passado que agora se sente visado por esse presente que estamos.
O poeta mineiro Edimilson de Almeida Pereira falou que a ideia do ancestral talvez seja uma pessoa que encarnou em si dilemas imanentes e não a de um sujeito perfeito. O ancestral visto como alguém que respondeu e lidou com questões que continuam hoje a nos atravessar. O exercício é esse: pensar como o Otelo encarnou esses dilemas. Respondeu, criou, gingou, dançou, a partir daquelas questões. Ao mesmo tempo precisamos checar se essas estratégias ainda nos servem. O movimento a ser feito é inspirar-se nele para construir, porque efetivamente os problemas continuam a querer nos apertar e continuam a nos condenar.
Fábio Rodrigues Filho atua em curadoria, montagem, pesquisa e crítica de cinema. Doutorando em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre pela mesma Universidade. Baiano, graduou-se na UFRB. Desde 2023, está na coordenação do Cinema do Dragão, em Fortaleza/CE. Compôs a comissão de seleção de festivais, mostras e labs como o CachoeiraDoc, FestCurtasBH (2019 a 2023), Goiânia Mostra Curtas (2022 e 2023), Festival Internacional do Audiovisual Negro, Mostra Sesc de Cinema (2023), Dialab (2018), entre outros. Em 2025 foi o curador da retrospectiva “Intérprete do Brasil: uma homenagem a Grande Otelo”, realizada pelo Cine Humberto Mauro. Realizou e montou os filmes “Tudo que é apertado rasga” (2019) e “Não vim no mundo pra ser pedra” (2021). É membro do grupo de pesquisa Poéticas da Experiência. Atua também como cartazista de filmes e cineclubista, tendo coordenado o Cineclube Mário Gusmão (2016 a 2018) e participado de outros projetos de exibição.