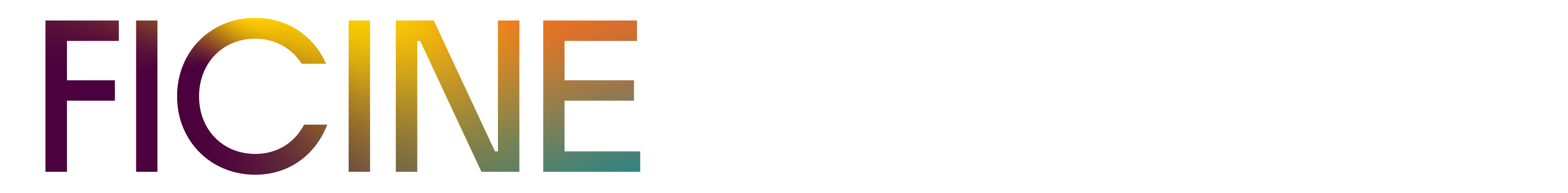Vinicius Dórea
Escrevo esso texto na tentativa de elaborar a respeito da minha experiência como participante na 8ª edição da Mostra de Cinema Negro Egbé, que aconteceu na cidade de Aracaju, Sergipe, entre o final do mês de março e o início de abril do corrente ano. Utilizo a palavra “elaborar” pois penso que a Egbé apresentou dinâmicas plurais e interessantes que me atravessaram de forma pessoal e escrever sobre elas funciona como uma espécie de revelação, com seus códigos, sobre uma ordem de pensamento minha que relaciona o cinema, a vida, algumas identidades e um território. Território esse que vivo e que faz com que eu escreva esse texto a partir das experiências que tive nele.
Pretendo então escrever sobre a Mostra de forma cronológica, mas também transgredir essa lógica e obedecer a não-cronologia da minha memória. Espero que esse texto faça jus a essa edição da Egbé tanto em sua programação heterogênea em forma e conteúdo, mas também à quantidade de sentimentos que a Mostra me provocou. Nesse sentido, vejo que a construção de pensamento por trás dessa 8ª edição da Egbé demonstrou um cuidado em não fornecer respostas para as questões postas, mas trabalhou para estimular a realização de perguntas.
Teatro e cinema negros
Na mesa de abertura, “Atravessamentos entre Teatro e Cinema Negro”, os convidados, Severo D’Acelino, Jonathan Rodrigues e Rita Maia discutiram as raízes do teatro negro sergipano e o seu estado atual. A presença de Severo D’Acelino na mesa é de grande valor à Mostra, pois além de ser uma figura importante para o Teatro Sergipano, Severo é também uma das maiores lideranças do Movimento Negro em Sergipe. Não à toa o Troféu Homenagem da Mostra de Cinema Negro Egbé recebe o nome de Severo, sendo ele o primeiro à recebê-lo. Falando de sua trajetória como ator, Severo D’Acelino disse que todos os seus personagens foram negros, sergipanos e, de certa forma, foram Severo(s). Ele construiu uma identidade pessoal e profissional que são atravessadas por um território, colocando o que ele acredita ser mais rico na sua atuação, que é ele próprio. Severo desafia convenções sociais que tendem a limitar o que são essas experiências coletivas: ser negro e ser sergipano. Ele se apropria dessas ideias e as utiliza em seu trabalho para criar uma ideia de sergipanidade e negritude que se encaixam no seu corpo.
Nessa 8ª edição os homenageados foram Mariano Ântonio e Valdice Teles, personalidades que contribuíram e contribuem para a construção do imaginário negro brasileiro. Confesso que senti falta de ter um contato maior com a trajetória de vida de Valdice e Mariano durante a Mostra. Apesar da Egbé ter produzido dois episódios de podcasts (episódio sobre Mariano Antonio, episódio sobre Valdice Teles) trazendo um apanhado geral da vida dos homenageados, penso que alguma exposição sobre os seus trabalhos com apoio de trabalhos arquivistas no geral iriam enriquecer o trabalho de formação dessa edição. Porém, é notório que a razão dessa falta também nos diz algo muito importante: porque ela se dá pela escassez de pesquisas sobre Mariano Antônio e Valdice Teles, mesmo suas mortes já terem acontecido há 20 e 30 anos, respectivamente. Poucas informações sobre seus trabalhos aparecem em buscadores online ou em portais de pesquisa acadêmica e isso revela não somente a ausência de pesquisas como o apagamento de arquivos sobre figuras negras históricas do território sergipano. No entanto, há também nesse vazio um convite para que novas mobilizações surjam e possamos agir para perpetuar as suas memórias.
A intersecção entre cinema e teatro que essa edição da Mostra realizou, tanto na performance, como também na homenagem e convite dessas figuras emblemáticas do teatro sergipano é muito rica, pois mostra que há uma conversa entre eles no sentido que o teatro sergipano entendeu que o como é mais importante do que a coisa. E o teatro parece incorporar esse como, que vem de uma tradição das religiões de matriz africana, mais especificamente do Candomblé, através de um trabalho de preparação corporal e referência estética.
Sergipanidade, a que será que se destina?
Outro convidado da mesa de abertura, Jonathan Rodrigues, fez uma provocação acerca do conceito de sergipanidade. Ele captura esse conceito e se pergunta se esse não estaria sendo utilizado por interesses escusos na tentativa de apagar as raízes afro-diaspóricas e indígenas do nosso estado. A partir desse primeiro momento já fica claro que a Mostra se colocou em um lugar que possibilite a elaboração de perguntas que provoquem um tensionamento e essas só surgiram através de um trabalho de valorização do pensamento.. Essas perguntas ganham uma extensão e corpo na performance do próprio Jonathan Rodrigues que aconteceu na sexta-feira, 4 de abril, no Centro de Criatividades.
Jonathan utiliza seu próprio corpo na performance “Corpo Terra” para indagar esse lugar de sergipanidade e questionar o eurocentrismo do seu próprio trabalho como dançarino e performer. Ele aponta certos desvios que são normalizados na cultura e demonstra violências cotidianas como o fato de seu corpo sergipano ser muitas vezes enxergado como um corpo baiano. É como se o cabelo black e a sua cor retinta não combinassem com o território sergipano e isso diz muito sobre qual é a imagem que a sergipanidade tenta alcançar. É um conceito que não chega nas periferias, que não chega nos becos enlamaçados e que não chega nos quilombos. A sergipanidade é, nesse sentido, um produto utilizado para vender. Jonathan em sua performance nos lembra dos “nomes de autoridades” que nomeiam as praças e ruas da cidade, leia-se, imperadores, políticos, advogados e desembargadores, o que só revela uma dissonância que essas homenagens carregam quando reforçam que a imagem representativa que Sergipe tenta trazer não é de um corpo preto parecido com o seu.
As indagações de Jonathan puderam ser observadas na prática durante a realização dessa 8ª edição da Egbé visto que a escolha dos espaços para a realização da Mostra foram também escolhas políticas. Primeiramente, o Centro de Criatividade, um espaço localizado ao lado de um quilombo urbano, a Maloca, e que precisa ser melhor utilizado como um espaço para se pensar arte na cidade. Além disso, o Cine Vitória, o único cinema de rua do estado de Sergipe, que se localiza no espaço da Rua 24h em Aracaju. A diretora-geral da mostra, Luciana Oliveira, falou da dificuldade que teve para conseguir que as portas principais do espaço ficassem abertas durante a realização da Egbé e para que isso acontecesse foi-se necessário uma mobilização que envolveu até parlamentares locais. Uma indicação grave de como Sergipe pensa na cultura como uma possibilidade de economia, de forma geral, somente quando se intitula de “país do forró” durante o mês de junho. A imagem da “sergipanidade” utilizada na publicidade tem dado resultado pois vende e vende muito bem. Esse conceito tenta se infiltrar no cinema através dos editais de cultura que ditam que essa identidade construída por instituições apareça em filmes e produtos audiovisuais no geral. O erro central dos gestores é não perceber que as identidades são processos criados por atores sociais, pelo povo. Essas propagandas institucionais disfarçadas de cultura são tão fechadas em conceito que cabe uma reflexão: como pode um filme ser mais sergipano que o outro? Essa sergipanidade só consegue ser expressa através de araras, caranguejos, amendoins, cajus e outros totens?
O cinema do tempo-memória
Para falar da curadoria dos filmes dessa edição da Egbé menciono dois filmes que me tocaram bastante e que enxergo uma relação com o restante da Mostra: “Quando Aqui” (2024), de André Novais, e “Os ouvidos que ouvem” (2016), filme angolano de Hugo Salvaterra. O primeiro abre com a frase do geógrafo Milton Santos: “O espaço é a acumulação desigual de tempos” e, a partir daí, trabalha um local específico, que de início parece querer dar uma continuidade ao gesto de docuficção já feito pelo diretor, mas que começa a tratar do espaço como agente transformador e como ele também é capaz de ser transformado através da vivência. André Novais viaja através desses tempos, na linguagem cinematográfica, se utilizando da relação entre presente, passado e futuro. O filme consegue pensar em diferentes existências e relacionar o corpo negro à própria história do planeta Terra. Já o filme do Hugo Salvaterra, na mostra dos filmes angolanos, curada pela professora Yérsia Assis, trata de um casal novaiorquino que se conecta através da música e carrega um debate sobre não-monogamia e existencialismo. Durante a sessão, “Os Ouvidos que Ouvem” parecia revelar um deslocamento de narrativa e de linguagem quando comparado com os outros filmes angolanos. Isso devido ao fato do seu diretor ter transposto para as imagens essa experiência corporal, nesses espaços que ele habitou, durante a sua vida. Isso é rico, porque mostra que o cinema negro não cabe em caixinhas e precisamos lidar com essas definições a partir dos filmes, ou seja, tratar o cinema negro como uma pergunta e não como uma resposta.
A Egbé também teve um espaço de formação que foi com a oficina “Som e Oralidade” dos oficineiros Edwyn Gomes e Gabriel Muniz que tratavam de suas pesquisas de formas separadas, mas que se relacionavam entre si. Edwyn falava da sua pesquisa com ancestralidade pesquisando a própria família, ensinando como ele a realizou e mostrando como os participantes da oficina poderiam também realizar essa pesquisa para descobrir mais informações sobre seus antepassados. Já a pesquisa de Gabriel Muniz trabalha com dimensões conceituais de paisagens sonoras afro-diaspóricas ou paisagens afro sonoras tanto como conceito como categoria de análise dessa ancestralidade. Ele discorreu sobre como a captação desses registros orais podem ser utilizados como documentários audiovisuais. Um dos caminhos para criar essas áudio narrativas são os métodos de expressão e de performance dos corpos, realizados na prática através de uma caminhada no quilombo urbano Maloca.
Intuições de futuro
Para encerrar, penso na fala da professora Kênia Freitas na mesa de encerramento da Mostra em que ela parafraseia Mark Dery, no seu texto fundador do afrofuturismo, quando ele se pergunta se o povo preto pode construir futuros possíveis tendo um passado tão violento e tão apagado. A Egbé mostra que é possível sim que esse futuro seja construído e que ele só se dará com esse retorno ao passado e as suas experiências. Tanto no sentido de dor e aprendizado, como também para aguçar a nossa intuição para o futuro. Pois o futuro é negro e ele está sendo pensado através da negritude. Desejo uma vida longa a Mostra de Cinema Negro Egbé, que novas edições possam acontecer para que nós possamos demarcar esse território de uma forma que pense o corpo negro como participante dele e que seja um corpo capaz de elaborar perguntas para que nós possamos imaginar novas formas de viver e novas construções de pensamento. Porque é disso que se trata o cinema negro: de uma vida plural, existente e possível, que precisa ser contada através de autorias negras.